O que é filosofia?
Paulo Ghiraldelli Jr. O Filósofo da Cidade de São Paulo
Um dos melhores modos de responder à pergunta “o que é filosofia?” é mostrar como os filósofos, ou as correntes filosóficas principais da filosofia, fizeram filosofia e/ou dissertaram sobre suas concepções de filosofia.
Escolho abaixo alguns nomes de filósofos e algumas correntes. Penso que elas são representativas do pensamento ocidental e que, se há mais, e certamente há, as escolhidas abaixo são mais matriciais. As outras, de algum modo, seriam ou derivadas ou afins.
1. Admiração e desbanalização: Platão e Aristóteles
Platão e Aristóteles deram à filosofia uma de suas melhores definições. Eles viram a filosofia como um discurso admirado e/ou espantado com o mundo.
Nessa linha de raciocínio, dizemos que quando falamos sobre o mundo e colocamos questões do tipo "o que é um raio?" e "como acontece um raio?", estamos propensos a adentrar no campo da ciência, enquanto que quando fazemos perguntas do tipo "o que é o que é?" estamos assumindo já, um tipo de discurso filosófico.
As perguntas da filosofia mostram uma atitude de máxima admiração, pois demonstram inquietude com aquilo que até então era o mais banal. Se alguém pergunta "o que é que é?", este alguém está criando a desbanalização de algo bastante corriqueiro, que é a condição de ser, o que até então não havia preocupado ninguém.
Estamos cotidianamente preocupados em saber coisas que não sabíamos. Agora, perguntar pelo ser das coisas que queremos saber o que são, nos parece meio fora de propósito - por que teríamos de perguntar pelo que é tão banal? Ora, o que a filosofia faz, na acepção tradicional que aparece em Platão e Aristóteles, é justamente isto: ela põe certas perguntas que nos obrigam a olhar o banal como não mais banal. A filosofia, então, é o vocabulário com o qual desbanalizamos o banal. Tudo com o qual estamos acostumados torna-se motivo para uma suspeita, tudo que é corriqueiro fica sob o crivo de uma sentença indignada, e então deixamos de nos aceitar como acostumados com as coisas que até então estão estávamos acostumados.
2. O Saber Ignorante: Sócrates
Se fosse perguntado a Sócrates "o que é a filosofia?", é possível dizer que ele não responderia como Platão, ainda que não o desmentisse. Sócrates esteve mais disposto a fazer filosofia do que erigir uma discussão meta-filosófica, isto é, uma discussão sobre a definição e os métodos da filosofia.
Estava disposto a fazer da filosofia um trabalho com conseqüências mais drásticas - para a vida prática cotidiana - que as assumidas por Platão. Ele não estava interessado na admiração ou no espanto com o que é banal no mundo, mas motivado a ver a desbanalização do que poderia ser tomado como banal para si mesmo e para outros homens: a condição de cada um a respeito do que sabe sobre o mundo e sobre si mesmo em relação à conduta na vida prática, na vida moral. No jogo de perguntas e respostas para cada transeunte de Atenas, Sócrates não tinha respostas para nada, ainda que tivesse um bom número de perguntas cujo objetivo era levar seus interlocutores a perceber que o que sabiam do mundo e de si mesmos (especialmente no campo das verdades morais) era muito pouco, e que a condição de sábio, aquele que poderia se auto-conhecer, talvez fosse justificável para os que sabiam que nada sabiam.
3. O Cogito como fundamento último
Descartes não desmentiu Sócrates, Platão ou Aristóteles. Ele, como bom filósofo, realmente se espantava com o que os outros acreditavam como banal. Para sua época, não deveria ser banal encontrar tantos povos diferentes com tantos modos de pensar e de falar distintos uns dos outros e que, no entanto, poderem ser tomados como “humanos e inteligentes”. Mas, na verdade, o contato dos povos europeus com outros, como se deu no período das grandes navegações, se tornou algo rapidamente banal. Ainda que houvesse estranhamento e guerras – inclusive guerras de religião e de todo tipo de intolerância – o estranhamento foi menor que a aceitação da tese de que cada povo tem sua vida e, enfim, logo surgiu no cenário o ditador popular “cada cabeça uma sentença”. Era uma forma de legitimação da relativização das conclusões que cada um poderia chegar.
Descartes viu algo esquisito nisso. Ele não tomou tal relativismo como banal.
Se cada cabeça tem sua sentença, então quem está com a verdade? Descartes estranhou o que, mais tarde, chamamos de “relativismo” – no conhecimento e em vários outros campos. Ele queria saber como, para além de nossas divergências de modos de pensamento, que caracterizava nossas diferenças culturais, étnicas, geográficas etc., poderíamos todos ter certezas ou não a respeito de enunciados que se punham como verdades. Para resolver isso, sua idéia foi simples: vamos aceitar somente o que não pudermos duvidar a partir de uma certeza cristalina. Se eu tenho uma verdade cristalina, então, por dedução silogística, posso tirar outras verdades – conjecturou ele.
Paulo Ghiraldelli Jr. O Filósofo da Cidade de São Paulo
Um dos melhores modos de responder à pergunta “o que é filosofia?” é mostrar como os filósofos, ou as correntes filosóficas principais da filosofia, fizeram filosofia e/ou dissertaram sobre suas concepções de filosofia.
Escolho abaixo alguns nomes de filósofos e algumas correntes. Penso que elas são representativas do pensamento ocidental e que, se há mais, e certamente há, as escolhidas abaixo são mais matriciais. As outras, de algum modo, seriam ou derivadas ou afins.
1. Admiração e desbanalização: Platão e Aristóteles
Platão e Aristóteles deram à filosofia uma de suas melhores definições. Eles viram a filosofia como um discurso admirado e/ou espantado com o mundo.
Nessa linha de raciocínio, dizemos que quando falamos sobre o mundo e colocamos questões do tipo "o que é um raio?" e "como acontece um raio?", estamos propensos a adentrar no campo da ciência, enquanto que quando fazemos perguntas do tipo "o que é o que é?" estamos assumindo já, um tipo de discurso filosófico.
As perguntas da filosofia mostram uma atitude de máxima admiração, pois demonstram inquietude com aquilo que até então era o mais banal. Se alguém pergunta "o que é que é?", este alguém está criando a desbanalização de algo bastante corriqueiro, que é a condição de ser, o que até então não havia preocupado ninguém.
Estamos cotidianamente preocupados em saber coisas que não sabíamos. Agora, perguntar pelo ser das coisas que queremos saber o que são, nos parece meio fora de propósito - por que teríamos de perguntar pelo que é tão banal? Ora, o que a filosofia faz, na acepção tradicional que aparece em Platão e Aristóteles, é justamente isto: ela põe certas perguntas que nos obrigam a olhar o banal como não mais banal. A filosofia, então, é o vocabulário com o qual desbanalizamos o banal. Tudo com o qual estamos acostumados torna-se motivo para uma suspeita, tudo que é corriqueiro fica sob o crivo de uma sentença indignada, e então deixamos de nos aceitar como acostumados com as coisas que até então estão estávamos acostumados.
2. O Saber Ignorante: Sócrates
Se fosse perguntado a Sócrates "o que é a filosofia?", é possível dizer que ele não responderia como Platão, ainda que não o desmentisse. Sócrates esteve mais disposto a fazer filosofia do que erigir uma discussão meta-filosófica, isto é, uma discussão sobre a definição e os métodos da filosofia.
Estava disposto a fazer da filosofia um trabalho com conseqüências mais drásticas - para a vida prática cotidiana - que as assumidas por Platão. Ele não estava interessado na admiração ou no espanto com o que é banal no mundo, mas motivado a ver a desbanalização do que poderia ser tomado como banal para si mesmo e para outros homens: a condição de cada um a respeito do que sabe sobre o mundo e sobre si mesmo em relação à conduta na vida prática, na vida moral. No jogo de perguntas e respostas para cada transeunte de Atenas, Sócrates não tinha respostas para nada, ainda que tivesse um bom número de perguntas cujo objetivo era levar seus interlocutores a perceber que o que sabiam do mundo e de si mesmos (especialmente no campo das verdades morais) era muito pouco, e que a condição de sábio, aquele que poderia se auto-conhecer, talvez fosse justificável para os que sabiam que nada sabiam.
3. O Cogito como fundamento último
Descartes não desmentiu Sócrates, Platão ou Aristóteles. Ele, como bom filósofo, realmente se espantava com o que os outros acreditavam como banal. Para sua época, não deveria ser banal encontrar tantos povos diferentes com tantos modos de pensar e de falar distintos uns dos outros e que, no entanto, poderem ser tomados como “humanos e inteligentes”. Mas, na verdade, o contato dos povos europeus com outros, como se deu no período das grandes navegações, se tornou algo rapidamente banal. Ainda que houvesse estranhamento e guerras – inclusive guerras de religião e de todo tipo de intolerância – o estranhamento foi menor que a aceitação da tese de que cada povo tem sua vida e, enfim, logo surgiu no cenário o ditador popular “cada cabeça uma sentença”. Era uma forma de legitimação da relativização das conclusões que cada um poderia chegar.
Descartes viu algo esquisito nisso. Ele não tomou tal relativismo como banal.
Se cada cabeça tem sua sentença, então quem está com a verdade? Descartes estranhou o que, mais tarde, chamamos de “relativismo” – no conhecimento e em vários outros campos. Ele queria saber como, para além de nossas divergências de modos de pensamento, que caracterizava nossas diferenças culturais, étnicas, geográficas etc., poderíamos todos ter certezas ou não a respeito de enunciados que se punham como verdades. Para resolver isso, sua idéia foi simples: vamos aceitar somente o que não pudermos duvidar a partir de uma certeza cristalina. Se eu tenho uma verdade cristalina, então, por dedução silogística, posso tirar outras verdades – conjecturou ele.
Descartes logo arrumou sua primeira verdade e, junto, sua certeza. Qual? A de que se eu estiver enganado de tudo, se tudo que penso e falo é engano, é falso, ilusão, ainda assim é pensamento. Não poderia ser iludido de modo tão amplo se não pensasse. Desse modo, o cogito – o pensamento – é o que não posso abrir mão como sendo algo que realmente está se dando – eis aí uma certeza. Daí o enunciado cartesiano célebre: “penso, existo”.
Descartes inaugurou a filosofia como a busca da certeza do Cogito, como ponto de partida para toda e qualquer outra investigação.
4. A Critica da Razão e da Racionalidade: Kant, Hegel e Marx
Descartes colocou em dúvida tudo, mas não colocou em dúvida a própria capacidade de pensar de modo consciente, racional. “Penso, logo sou” é uma certeza, mas só consigo dizer isso na medida em que estou de posse da razão.
Descartes inaugurou a filosofia como a busca da certeza do Cogito, como ponto de partida para toda e qualquer outra investigação.
4. A Critica da Razão e da Racionalidade: Kant, Hegel e Marx
Descartes colocou em dúvida tudo, mas não colocou em dúvida a própria capacidade de pensar de modo consciente, racional. “Penso, logo sou” é uma certeza, mas só consigo dizer isso na medida em que estou de posse da razão.
Qualquer um de nós, que refaz a meditação cartesiana, chega ao “penso, logo sou” por conta de ser racional. Não acreditamos que algum ser não racional chegaria a tal certeza. Mas se a razão como capacidade de julgar se tornou banal, cabe ao filósofo desbanalizá-la. Um dos méritos da filosofia pós-cartesiana foi o de tentar questionar até mesmo aquilo que não havia sido questionado por Descartes. Esse foi um dos méritos de Kant. Essa acepção de como fazer filosofia ficou conhecida como reflexão e discurso da razão que faz a crítica da razão.
Kant foi quem acreditou que o papel da filosofia era o de crítica de tudo aquilo que ela, e não só as ciências, poderiam dizer. Ele se propôs, então, a colocar a razão em um tribunal um tanto esquisito: o tribunal onde a razão estaria nele como ré e juiz ao mesmo tempo. Foi a época na qual a filosofia se transformou, basicamente, em epistemologia, perguntando não mais coisas a respeito do mundo (humano, social, físico), mas sim, especificamente, sobre o conhecimento; ou mais exatamente: sobre as condições do conhecimento e da normatividade, sobre os limites da razão na sua tarefa de produção do saber e de delimitação das normas de conduta.
Kant perguntou sobre as condições do conhecimento e da liberdade de agir e, assim, elaborou a crítica da razão; tanto da razão teórica - a que conhece - quanto da razão prática - a que julga e que é responsável pela conduta moral -, sendo que também esboçou algo semelhante em relação ao aparato capaz de fazer juízos estéticos. Mas Kant fez essa crítica, em grande medida, sem levar suficientemente a sério a história.
Marx, por sua vez, tendo lido Hegel - o filósofo que racionalizou a história e historicizou a razão - levou adiante a idéia da filosofia de Kant como uma busca pela crítica da razão, mas uma razão banhada na racionalidade dos homens no mundo histórico. Daí que a crítica de Marx não era somente uma crítica da razão, tomada em um sentido epistemológico restrito, mas a crítica da racionalidade da vida humana enquanto vida social e econômica.
Não à toa, portanto, a obra máxima de Marx, O Capital, vinha com o subtítulo de "crítica da Economia Política". A racionalidade humana enquanto impregnada no âmbito sócio-histórico havia sido descrita pelos teóricos da "Economia Política", mas Marx achava que eles não haviam levado em conta um estudo crítico, ou seja, um estudo capaz de revelar limites, condições e pressupostos de suas próprias conclusões. O conhecimento da vida econômica e social dos homens deveria passar por uma atividade que, hoje, podermos chamar de epistemologia social crítica.
5. A Terapia da Linguagem: Nietzsche, os positivistas lógicos e os filósofos analíticos
Nietzsche e os filósofos analíticos, dentre estes últimos os positivistas lógicos do Círculo de Viena, fizeram uma revolução na filosofia. Eles se espantaram com a própria filosofia. Acharam que fazer filosofia é que havia se tornado banal. Então, eles tentaram desbanalizar a própria filosofia.
Para eles, as atividades de adquirir o saber ignorante ou de encontrar certezas e, enfim, a atividade crítica, só tinham algum sentido se fosse levado em conta que tudo isso estava impregnado da idéia de que a filosofia, desde sempre, procurou por algo que, talvez, não fosse lá muito correto de se procurar: um ponto arquimediano, ou seja, uma âncora que ligasse pensamento ou linguagem ao mundo. Mas tal âncora seria feita de pensamento ou de mundo?
Em outras palavras, a filosofia teria sido, desde sempre, uma metafísica, e a metafísica seria apenas um grosseiro erro provocado por uma linguagem excessivamente rebuscada – para alguns analíticos – ou uma linguagem já na origem maculada pela “doença”, “fraqueza”, “moral escrava” e outros males da decadência – como Nietzsche os qualificou.
Para alguns filósofos analíticos, em especial os positivistas lógicos, a filosofia, ao ter se dedicado à busca de fundamentos metafísicos que envolviam a criação de uma linguagem descuidada, teria se enredado em um grande número de problemas, todos eles, na verdade, pseudo-problemas, pois adviriam de confusões criadas por um uso indevido das palavras, sentenças, proposições etc.
Alguns desses filósofos, então, acreditaram que a filosofia poderia ainda ser crítica, mas crítica da linguagem, de modo a revelar o que é que haveria de puro e realmente sólido por baixo de tantas frases meramente alusivas, metafóricas, etc., na nossa linguagem, tanto quando falamos no cotidiano quanto quando falamos cientificamente. Outro grupo, nunca achou que a atividade de análise da linguagem, que seria então a atividade par excellence da filosofia, deveria cumprir uma função crítica, desveladora, iluminista, mas que ela seria, sim, apenas uma terapia da linguagem: ela teria menos a ver com "resolver problemas" e mais a ver com "dissolver pseudo-problemas".
Nietzsche, junto com os positivistas lógicos e certos filósofos analíticos do século XX, quis ver o fim da metafísica adotando uma postura que incidiu em colocar a linguagem na sala de cirurgia. Todavia, Nietzsche nunca acreditou que poderia tornar a linguagem mais clara, capaz de apreender o real, nem mesmo tentou achar uma âncora que pudesse ser mostrada como o que fixa a linguagem no mundo. Ao contrário, toda a atividade de crítica da razão ou da linguagem, para Nietzsche, estava equivocada, era uma atividade cega. Ela não seria capaz de mostrar-se a si mesma como tendo sido motivada por forças não racionais. Tais forças não racionais seriam, poderíamos dizer, cósmicas, que uma vez incorporadas no humano, geram uma tipologia: “fracos” e “fortes”, “doentes” e “sadios”, “escravos” e “nobres”, “mulher” e “homem”, “cordeiro e lobo” etc. A linguagem estaria comprometida com erros, certamente, mas pelo seu comprometimento com o modo como ela surgiu, ou seja, a vida gregária, própria dos “fracos”, “doentes” etc – os seres que, pela decadência, vieram a viver coletivamente, os homens. A filosofia deveria ser uma tentativa de ultrapassamento dessa condição. Uma tentativa de auto-superação que, enfim, iria terminar, talvez, pela abolição de toda e qualquer filosofia ou mesmo de todo e qualquer pensamento e discurso.
6. A Redescrição de Nós Mesmos e a Liberdade: Richard Rorty
Quando perguntaram a Richard Rorty qual era o livro mais importante do século XX, ele citou as obras de Freud, que mudaram a imagem que tínhamos de nós mesmos. Certamente, se a conversa fosse sobre outros séculos, Rorty teria falado de Darwin, de Jesus etc., ou seja, todos aqueles que contribuíram para gerar discursos capazes de descrições inovadoras sobre nós mesmos, os "bípedes sem penas".
A tarefa da filosofia, para o pragmatismo de Rorty, é basicamente a tarefa de poder nos dar imagens de nós mesmos com as quais possamos estar mais aptos às necessidades do futuro. A tarefa da filosofia seria a de colaborar com um discurso que nos convencesse continuamente de que podemos ser versões melhores de nós mesmos.
Rorty, como Hegel, gosta de ver a história como caminhando em direção à liberdade, ainda que diferentemente de Hegel ele não acredite que a história tenha um caminho. Mais liberdade, para Rorty, é algo que só pode ser alcançado se sobrepusermos imagens sobre nós mesmos que nos convençam que podemos ser mais do que somos: mais plurais, leves, soltos, audaciosos, diferentes e livres, enfim, capazes de usar dessa liberdade para a construção de sociedades democráticas onde sejamos mais diferentes, mais livres, mais plurais, mais leves, mais soltos e mais audaciosos. Todavia, diferente de toda e qualquer outra filosofia ou doutrina, esta não seria uma doutrina sobre o que é o mundo, capaz então de nos dizer que nossa ação está fundamentada, mas sim uma teoria sobre nós e o mundo que funcionaria ad hoc.
Assim sendo, como teoria ad hoc, ela não poderia ser desbancada com a acusação de querer fundamentar qualquer saber, reivindicando para si a pseudo-legitimidade de um saber de segunda ordem, eleito por si mesmo - o eterno círculo denunciado pelos filósofos da Escola de Frankfurt, que faz da filosofia não instância de saber mas, os fazer, o conjunto dos objetivos postos por cada uma dessas acepções. Isso nos levaria a cair em contradições e, enfim, deixarmos de agir filosoficamente? Se não tomarmos cuidado, sim, mas se formos inteligentes, não.
PGJr. junho de 2005 ©
Fonte:
http://www.ghiraldelli.pro.br/
Kant foi quem acreditou que o papel da filosofia era o de crítica de tudo aquilo que ela, e não só as ciências, poderiam dizer. Ele se propôs, então, a colocar a razão em um tribunal um tanto esquisito: o tribunal onde a razão estaria nele como ré e juiz ao mesmo tempo. Foi a época na qual a filosofia se transformou, basicamente, em epistemologia, perguntando não mais coisas a respeito do mundo (humano, social, físico), mas sim, especificamente, sobre o conhecimento; ou mais exatamente: sobre as condições do conhecimento e da normatividade, sobre os limites da razão na sua tarefa de produção do saber e de delimitação das normas de conduta.
Kant perguntou sobre as condições do conhecimento e da liberdade de agir e, assim, elaborou a crítica da razão; tanto da razão teórica - a que conhece - quanto da razão prática - a que julga e que é responsável pela conduta moral -, sendo que também esboçou algo semelhante em relação ao aparato capaz de fazer juízos estéticos. Mas Kant fez essa crítica, em grande medida, sem levar suficientemente a sério a história.
Marx, por sua vez, tendo lido Hegel - o filósofo que racionalizou a história e historicizou a razão - levou adiante a idéia da filosofia de Kant como uma busca pela crítica da razão, mas uma razão banhada na racionalidade dos homens no mundo histórico. Daí que a crítica de Marx não era somente uma crítica da razão, tomada em um sentido epistemológico restrito, mas a crítica da racionalidade da vida humana enquanto vida social e econômica.
Não à toa, portanto, a obra máxima de Marx, O Capital, vinha com o subtítulo de "crítica da Economia Política". A racionalidade humana enquanto impregnada no âmbito sócio-histórico havia sido descrita pelos teóricos da "Economia Política", mas Marx achava que eles não haviam levado em conta um estudo crítico, ou seja, um estudo capaz de revelar limites, condições e pressupostos de suas próprias conclusões. O conhecimento da vida econômica e social dos homens deveria passar por uma atividade que, hoje, podermos chamar de epistemologia social crítica.
5. A Terapia da Linguagem: Nietzsche, os positivistas lógicos e os filósofos analíticos
Nietzsche e os filósofos analíticos, dentre estes últimos os positivistas lógicos do Círculo de Viena, fizeram uma revolução na filosofia. Eles se espantaram com a própria filosofia. Acharam que fazer filosofia é que havia se tornado banal. Então, eles tentaram desbanalizar a própria filosofia.
Para eles, as atividades de adquirir o saber ignorante ou de encontrar certezas e, enfim, a atividade crítica, só tinham algum sentido se fosse levado em conta que tudo isso estava impregnado da idéia de que a filosofia, desde sempre, procurou por algo que, talvez, não fosse lá muito correto de se procurar: um ponto arquimediano, ou seja, uma âncora que ligasse pensamento ou linguagem ao mundo. Mas tal âncora seria feita de pensamento ou de mundo?
Em outras palavras, a filosofia teria sido, desde sempre, uma metafísica, e a metafísica seria apenas um grosseiro erro provocado por uma linguagem excessivamente rebuscada – para alguns analíticos – ou uma linguagem já na origem maculada pela “doença”, “fraqueza”, “moral escrava” e outros males da decadência – como Nietzsche os qualificou.
Para alguns filósofos analíticos, em especial os positivistas lógicos, a filosofia, ao ter se dedicado à busca de fundamentos metafísicos que envolviam a criação de uma linguagem descuidada, teria se enredado em um grande número de problemas, todos eles, na verdade, pseudo-problemas, pois adviriam de confusões criadas por um uso indevido das palavras, sentenças, proposições etc.
Alguns desses filósofos, então, acreditaram que a filosofia poderia ainda ser crítica, mas crítica da linguagem, de modo a revelar o que é que haveria de puro e realmente sólido por baixo de tantas frases meramente alusivas, metafóricas, etc., na nossa linguagem, tanto quando falamos no cotidiano quanto quando falamos cientificamente. Outro grupo, nunca achou que a atividade de análise da linguagem, que seria então a atividade par excellence da filosofia, deveria cumprir uma função crítica, desveladora, iluminista, mas que ela seria, sim, apenas uma terapia da linguagem: ela teria menos a ver com "resolver problemas" e mais a ver com "dissolver pseudo-problemas".
Nietzsche, junto com os positivistas lógicos e certos filósofos analíticos do século XX, quis ver o fim da metafísica adotando uma postura que incidiu em colocar a linguagem na sala de cirurgia. Todavia, Nietzsche nunca acreditou que poderia tornar a linguagem mais clara, capaz de apreender o real, nem mesmo tentou achar uma âncora que pudesse ser mostrada como o que fixa a linguagem no mundo. Ao contrário, toda a atividade de crítica da razão ou da linguagem, para Nietzsche, estava equivocada, era uma atividade cega. Ela não seria capaz de mostrar-se a si mesma como tendo sido motivada por forças não racionais. Tais forças não racionais seriam, poderíamos dizer, cósmicas, que uma vez incorporadas no humano, geram uma tipologia: “fracos” e “fortes”, “doentes” e “sadios”, “escravos” e “nobres”, “mulher” e “homem”, “cordeiro e lobo” etc. A linguagem estaria comprometida com erros, certamente, mas pelo seu comprometimento com o modo como ela surgiu, ou seja, a vida gregária, própria dos “fracos”, “doentes” etc – os seres que, pela decadência, vieram a viver coletivamente, os homens. A filosofia deveria ser uma tentativa de ultrapassamento dessa condição. Uma tentativa de auto-superação que, enfim, iria terminar, talvez, pela abolição de toda e qualquer filosofia ou mesmo de todo e qualquer pensamento e discurso.
6. A Redescrição de Nós Mesmos e a Liberdade: Richard Rorty
Quando perguntaram a Richard Rorty qual era o livro mais importante do século XX, ele citou as obras de Freud, que mudaram a imagem que tínhamos de nós mesmos. Certamente, se a conversa fosse sobre outros séculos, Rorty teria falado de Darwin, de Jesus etc., ou seja, todos aqueles que contribuíram para gerar discursos capazes de descrições inovadoras sobre nós mesmos, os "bípedes sem penas".
A tarefa da filosofia, para o pragmatismo de Rorty, é basicamente a tarefa de poder nos dar imagens de nós mesmos com as quais possamos estar mais aptos às necessidades do futuro. A tarefa da filosofia seria a de colaborar com um discurso que nos convencesse continuamente de que podemos ser versões melhores de nós mesmos.
Rorty, como Hegel, gosta de ver a história como caminhando em direção à liberdade, ainda que diferentemente de Hegel ele não acredite que a história tenha um caminho. Mais liberdade, para Rorty, é algo que só pode ser alcançado se sobrepusermos imagens sobre nós mesmos que nos convençam que podemos ser mais do que somos: mais plurais, leves, soltos, audaciosos, diferentes e livres, enfim, capazes de usar dessa liberdade para a construção de sociedades democráticas onde sejamos mais diferentes, mais livres, mais plurais, mais leves, mais soltos e mais audaciosos. Todavia, diferente de toda e qualquer outra filosofia ou doutrina, esta não seria uma doutrina sobre o que é o mundo, capaz então de nos dizer que nossa ação está fundamentada, mas sim uma teoria sobre nós e o mundo que funcionaria ad hoc.
Assim sendo, como teoria ad hoc, ela não poderia ser desbancada com a acusação de querer fundamentar qualquer saber, reivindicando para si a pseudo-legitimidade de um saber de segunda ordem, eleito por si mesmo - o eterno círculo denunciado pelos filósofos da Escola de Frankfurt, que faz da filosofia não instância de saber mas, os fazer, o conjunto dos objetivos postos por cada uma dessas acepções. Isso nos levaria a cair em contradições e, enfim, deixarmos de agir filosoficamente? Se não tomarmos cuidado, sim, mas se formos inteligentes, não.
PGJr. junho de 2005 ©
Fonte:
http://www.ghiraldelli.pro.br/



 Aprender Fazendo
Aprender Fazendo


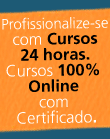







0 Comments:
Post a Comment