O Espaço Público da Educação:
Imagens, Narrativas e Dilemas
Antônio Nóvoa(Universidade de Lisboa)
A nossa civilização está em crise. E o sinal mais evidente é, sem dúvida, o colapso da nossa educação. Pela primeira vez na história, o homem revela-se incapaz de educar os seus filhos. As nossas prodigiosas descobertas em psicologia, as nossas iniciativas pedagógicas, tantas vezes interessantes e generosas, não tornam este diagnóstico mais fácil; bem pelo contrário, tornam-no ainda mais escandaloso. (...) É possível que esta desordem seja, na verdade, a transição para uma ordem superior. É possível. Mas nada nos diz que assim será. Só nos resta uma alternativa: analisar lucidamente o que se passa (Olivier Reboul, 1974).
Inicio com uma citação antiga, que me permite explicar duas intenções que considero essenciais para a leitura deste texto. Por um lado, ela ilustra a recorrência de um “discurso de crise”, que atravessa o pensamento sobre a escola desde finais do século XIX. Olivier Reboul refere-se-lhe a partir de uma hipótese de transição para uma ordem superior. Pela minha parte, argumentarei que estamos a assistir ao fim do “Estado educador”, mas que a solução não está em organizar as escolas no interior de redes privadas (familiares, comunitárias, religiosas, económicas). Reconheço-me nas palavras de Alain, escritas no início do século XX: “A escola não deve estar ao serviço do Estado, nem das famílias” (cf. Reboul, 1974, p. 51). É nesta imensa zona intermédia que imagino as várias possibilidades que podem dar origem a um novo espaço público da educação.
Por outro lado, a citação de Reboul coloca-nos perante a necessidade de uma análise lúcida e informada. Hoje em dia, são os mesmos conceitos e propostas que circulam no plano mundial, como réplicas de um discurso que tem o epicentro nos Estados Unidos da América. Uma vez mais, a educação tende a ser vista como a referência primeira dos projectos de reforma social. As teses mais populares agrupam-se à volta de dois eixos principais: o primeiro, fala de descentralização, autonomia, comunidades, proximidade ao local, envolvimento das famílias; o segundo, de avaliação, eficiência, responsabilidade, disciplina, autoridade, exigência académica. Mas é ilusório o consenso criado à volta destas palavras, que têm dado origem a políticas muito distintas. Só um estudo aturado e rigoroso nos permitirá dissipar a névoa que envolve as controvérsias actuais e compreender o que as inspira.
É por isso que, na primeira parte, Imagens dos tempos que correm, descrevo as fragilidades do pensamento sobre a escola e as razões do insucesso das políticas educativas. Na segunda parte, O fim da educação, identifico algumas das “narrativas” que organizam o debate sobre a escola, pondo em confronto a reconstrução da educação como espaço privado ou a sua renovação como espaço público. Finalmente, na terceira parte, Dilemas da profissão docente, retiro as consequências desta reflexão para o trabalho pedagógico, a partir de uma análise dos dilemas da comunidade, da autonomia e do conhecimento.
Uma ideia está sempre presente no meu espírito. O nosso drama nunca foi “educação a mais”, mas sim “educação a menos”; nunca foi um “excesso de presenças” na escola, mas antes uma certa indiferença e desinteresse.
Devemos trabalhar para aumentar o compromisso social com a educação, acolhendo e apoiando iniciativas de famílias, de associações, de poderes locais ou de professores, que se desenvolvam num quadro de abertura e de integração de todas as crianças. É neste sentido que defendo um espaço público da educação.
IMAGENS DOS TEMPOS QUE CORREM
A Pobreza dos Debates
De tempos a tempos, o país acorda em sobressalto. Ora num arrojo de entusiasmo, até mesmo de paixão, ora num impulso de desespero com o “estado do ensino”. Grupos e personalidades juntam-se em “programas de salvação nacional”, apelando à consciência das elites e do povo. Quem tem por ofício ler os papéis da história conhece bem a inutilidade destes gestos. Programas de salvação e reformas educativas acumulam-se, lado a lado, nas mesmas prateleiras. Serviram, talvez, para sossegar algumas consciências. Não serviram para mudar a nossa relação com a cultura e a educação, nem para transformar as nossas escolas.
O debate tem de ser marcado pela prudência e pela modéstia. Tem de recusar o efeito fácil das “grandes soluções” para abrir a possibilidade de uma mudança consistente e duradoura. Tem de enraizar-se na compreensão histórica dos problemas, sem se esgotar em referências nostálgicas ou futuristas.
Acima de tudo, tem de dar lugar à razão e à lucidez, a um esforço intelectual que nos desloca das evidências e das frases feitas, permitindo-nos novas maneiras de olhar e de sentir. É no tempo longo das coisas humanas, e não na agitação do instante, que gostaria de situar as minhas palavras. Começarei por criticar três discursos, tantas vezes misturados num mesmo gesto, que fecham o pensamento, impedindo-nos de ver para além do que já sabemos: a narrativa do atraso, a radiografia do desastre e o hino ao futuro.
A geração de 1870 inscreveu o tema da decadência na cultura portuguesa e, por via dele, a narrativa do atraso. Desde então, nunca mais deixámos de nos pensar como um “país atrasado”, em particular no sector da educação. A coisa foi dita e repetida. Uma e outra vez, por todas as gerações. E veio até aos nossos dias. Como um estigma de que não conseguimos libertar-nos e que os números foram sucessivamente confirmando: nos censos do final do século XIX, nos anuários internacionais de educação dos anos trinta, nos documentos da Unesco do pós-guerra, nos indicadores da OCDE, nas bases de dados da União Europeia, etc. Lembro apenas o célebre Manifesto de 1897, que pretendia salvar o país do seu défice intelectual: 4/5 dos portugueses não eram verdadeiros cidadãos, eram analfabetos. E, um século mais tarde, o Estudo nacional de literacia: 4/5 dos portugueses não têm condições para exercer uma cidadania activa, pois são incapazes de “seleccionar e organizar informação, relacionar ideias contidas num texto, fundamentar uma conclusão ou decidir que operações numéricas realizar”. A narrativa do atraso do atraso insinua-se com extrema naturalidade: é objectiva, evidente, incontroversa. A sua força reside na sua simplicidade. Imagina-se o mundo como uma escala que mede o grau de “progresso” e aponta-se a solução: subir os patamares um a um até atingir o nível dos países desenvolvidos. Esta narrativa não traz qualquer explicação útil, mas nem por isso deixa de indicar, com arrogante certeza, o rumo a seguir. Ela encerra duas curiosas ironias. Por um lado, acredita que os problemas da escola se resolvem com “mais escola”; dito de outro modo, revela-se incapaz de compreender as insuficiências do “modelo escolar”, tal como ele foi desenhado a partir do final do século XIX. Por outro lado, ignora que a “crise da escola” tem contornos exactamente iguais em Portugal e nos tais “países mais desenvolvidos”; veja-se o caso do Japão, sistematicamente colocado no topo da lista, que está a levar a cabo uma reforma profunda do sistema educativo, para responder à “gravíssima situação de crise do ensino” e para... promover o “renascimento do país”.
Um outro género, muito popular nos últimos anos, é a radiografia do desastre. Apropriado ao registo mediático, desenvolve-se sobretudo no plano da legitimação política. Quem chega ao poder, começa por explicar à nação o “estado deplorável” da escola, abrindo assim a ilusão de um novo ciclo. Adquire-se, por esta via, um capital político que junta a credibilidade do diagnóstico à expectativa da mudança. Vale a pena dar dois exemplos. Até meados dos anos oitenta, a tradição mandava que os ministros tentassem minimizar os problemas e as dificuldades. Roberto Carneiro rompe com esta tradição e, de forma corajosa, dirige-se ao país expondo a situação inaceitável do sistema de ensino. Na altura, a preocupação principal eram os índices altíssimos de “insucesso escolar” e o custo que representavam para o país. Conhecem-se bem as incongruências da política a que este diagnóstico deu origem. Em 1995, a poucos dias de ocupar a pasta da Educação, Marçal Grilo concebe uma notável operação mediática para lançar um dos estudos mais críticos sobre a educação em Portugal. Agora, o tópico são os “níveis assustadores de iliteracia”. Seis anos depois, pouco ou nada se alterou.
Apesar de ter uma construção discursiva bastante distinta, o hino ao futuro junta-se às anteriores maneiras de pensar a educação. Muitas vezes são os mesmos autores que transitam de um estilo para outro, comprimindo o espaço e o tempo de tal modo que o “ontem” e o “amanhã” se fundem num mesmo movimento. A ausência de presente é o traço comum a estas perspectivas, que se definem no registo da “terra prometida”. Em Portugal, este hino tem sido difundido através de duas modalidades principais. Por um lado, os estudos prospectivos, que procuram antecipar os “cenários do futuro”. Impregnados da cultura do planeamento educacional, que domina a política portuguesa desde o início dos anos setenta, têm-se revelado de uma total inutilidade. Por outro lado, as reflexões utópicas, escritas muitas vezes num tom lírico, que pretendem iluminar o caminho a percorrer. Particularmente activas na União Europeia, devido ao desenraizamento que aqui adquirem as políticas, glosam até à exaustão os temas da “sociedade do conhecimento”, das “novas tecnologias” ou da “educação e formação ao longo da vida”. A “paixão pelo futuro” pode ser um bom spot publicitário, mas, em educação, significa quase sempre um “défice de presente” (Nóvoa, 1999).
Estas três maneiras de pensar empobrecem o debate educativo. Criam a ilusão de um conhecimento novo quando, na verdade, se limitam a repetir, década após década, as mesmas ideias e banalidades. As políticas a que foram dando origem mostram bem a sua inconsequência. É por isso que defendo a necessidade de adoptar uma outra perspectiva, procurando uma compreensão histórica na linha defendida por Michel Foucault (1994): uma história do presente que procure identificar as coisas que ainda não foram faladas, que ainda não fazem parte dos nossos sistemas de pensamento. É partir de uma “história dos problemas”, isto é, da forma como historicamente uma determinada realidade se transformou num problema, que poderemos imaginar novas aproximações à questão da escola.
A falência das políticas
Quando se estudam as políticas educativas em Portugal, nos últimos trinta anos, é possível identificar quatro momentos principais, que contêm especificidades próprias, mas nos quais se detectam importantes linhas de continuidade . A análise histórica da educação não se sobrevalorizar as possibilidades da acção governamental. As questões são bem mais complexas e necessitam de ser esclarecidas através de uma multiplicidade de perguntas e olhares. Mas é evidente que o critério político não pode ser ignorado.
O momento fundador pertence à reforma Veiga Simão (1970-1974) e à sua “batalha da educação”. Sustentada numa cultura tecnocrática, que se tinha desenvolvido nos círculos do regime e da oposição nos anos sessenta, e fortemente baseada nas teses do capital humano e do planeamento educacional, a política de Veiga Simão afasta-se da tradição salazarista. As tendências de abertura e de democratização da escola, com importantes medidas no sentido do prolongamento da escolaridade obrigatória e da unificação do ensino, marcam a reforma impossível num país bloqueado pela ditadura.
Forma-se, no entanto, uma geração de especialistas, que associa a perspectiva tecnocrática a uma visão cristã do mundo, dando corpo a uma linguagem que define os mais importantes ministros da Educação da nossa história recente: Vítor Crespo, João de Deus Pinheiro, Roberto Carneiro, Marçal Grilo. A arquitectura da escola portuguesa no final do século XX foi, em grande medida, traçada por estes “engenheiros”.
O segundo momento corresponde à transição dos anos setenta para os anos oitenta. Passado o período revolucionário, consolidam-se maneiras de pensar e de agir que irão delimitar as fronteiras da acção política. Dois aspectos merecem realce, devido às consequências nefastas que tiveram ao longo dos últimos vinte anos. Por um lado, a continuidade de uma visão centralizada do sistema de ensino, num tempo histórico em que a emergência de um poder local democrático teria permitido imaginar outras alternativas; as referências à descentralização e à autonomia das escolas estiveram sempre presentes, mas os passos dados nesta direcção foram de uma enorme timidez. Por outro lado, a incapacidade de romper com uma concepção burocrática e administrativa do trabalho docente, apesar de uma insistente retórica sobre a profissionalização do professorado; para além de políticas de recrutamento e de progressão na carreira que se revelaram inadequadas, as situações mais problemáticas prenderam-se com o modo como foi concebida a formação inicial, em particular nas Escolas Superiores de Educação, e mais tarde a formação contínua de professores.
O terceiro momento é definido pelos trabalhos da Comissão de Reforma do Sistema Educativo, em meados dos anos oitenta, e pelo mandato ministerial de Roberto Carneiro (1987-1991). A linha dominante organizou-se em torno da “reforma curricular”, onde pontificavam Roberto Carneiro e Marçal Grilo, as duas personalidades que mais influenciaram a política educativa no regime democrático. A par de um importante investimento económico e de um crescimento significativo das taxas de escolarização, este período ficou marcado por medidas contraditórias, que contribuíram para uma “desregulação do sistema”, nomeadamente no ensino superior. As bases da reforma curricular revelaram-se inapropriadas, merecendo realce dois aspectos: a incapacidade de ultrapassar a lógica tri-partida do ensino básico, tendo-se mesmo posto em causa uma certa unidade do “ensino primário”, sem trazer nada de novo na organização do 2º e do 3º ciclos; a impossibilidade de resolver o problema do ensino secundário, que continuou esvaziado de uma identidade própria, sem uma clarificação das suas funções culturais, pessoais, académicas e profissionais.
O quarto momento abrange o mandato de Marçal Grilo como titular da pasta da Educação (1995-1999). Rodeado de grande expectativa, após década e meia de ministros social-democratas, ainda hoje é difícil compreender o que falhou.
Aparentemente estavam reunidas as condições necessárias e suficientes para uma acção consistente e coerente: condições políticas – identificação da educação como a grande prioridade governamental; condições económicas – aumento considerável do orçamento da educação; condições sociais – situação de acalmia como nunca existira no Portugal democrático; condições pessoais – qualidades técnicas e humanas, não só do ministro, mas também da equipa que reuniu à sua volta. Em Novembro de 2001, Marçal Grilo publicou um livro notável, O mais difícil é sentá-los, no qual “explica” o seu mandato. Está lá quase tudo: as intrigas e as petites histoires, os estados de alma e os ajustes de contas, os amigos e as cumplicidades, os gostos e os desgostos.
Falta apenas responder à pergunta inevitável: O que é que falhou na definição ou na concretização da política educativa? Em vez desta interrogação, o livro organiza-se numa estratégia típica de blaming , deixando transparecer, a cada passagem, que “a culpa é deles”. “Eles” são os jornalistas, os deputados, os especialistas, os pedagogos, os professores, os sindicalistas ... Alimenta-se, assim,a ilusão da “cadeira vazia” – a ilusão que ninguém ocupou o poder no Ministério da Educação – transferindo a responsabilidade para outras esferas sociais, políticas e profissionais.
Como se escreve num interessante ensaio de Seymour Sarason: “Os dirigentes políticos costumam culpar directamente grupos e forças que se encontram fora do sistema político. Implícita e explicitamente, estes dirigentes políticos consideram que o fracasso das reformas se deve a um sistema educativo incapaz de se renovar. Concordo com eles neste ponto, mas discordo totalmente da maneira como olham para os acontecimentos como se não tivessem tido qualquer responsabilidade neste fracasso. Não aprenderam nada” (1998, p. 5).
Ainda que de forma breve, vale a pena esboçar três ideias que podem contribuir para explicar as fragilidades da política educativa neste período: o pacto como política, a aparência da autonomia e o “bloqueio” da profissão docente.
Em 1995, a “pacificação” e o pacto educativo transformam-se no objectivo primeiro da acção governativa. Aceita-se a intenção de Marçal Grilo, num esforço para “credibilizar o sector”, como então se dizia. Esta política conduz à procura de consensos, que obrigam a evitar os sinais dissidentes.
Uma das consequências é a redução dos trabalhos de investigação e dos dispositivos de avaliação, nacionais e internacionais, que possam afectar a “imagem” que se quer criar. Outra, é a necessidade de uma política do “espectáculo”, no sentido em que Guy Debord (1992) utiliza este conceito. Mas, muito cedo, o pacto deixa de ser considerado um instrumento para se transformar num fim em si mesmo. Tornou-se inútil.
Desde meados dos anos oitenta que a “autonomia” e a “descentralização” se tornaram referências indispensáveis nos programas científicos e políticos: a investigação educacional elaborou propostas de gestão, de organização curricular e de desenvolvimento profissional centradas nos estabelecimentos de ensino; o discurso político chamou a atenção para a necessidade de uma maior presença das “comunidades locais” na vida das escolas. O primeiro governo socialista apropriou-se destas ideias e fez tenção de as transformar em acção política. Mas a incapacidade de abandonar uma visão centralizadora e a desconfiança em relação aos pais, aos poderes locais e aos professores não permitiram que a autonomia passasse de mera aparência. Não faltaram estudos bem elaborados. Faltou capacidade política para os pôr em prática.
No decurso da década de noventa tornou-se evidente a inadequação do sistema de formação inicial de professores, tanto nas universidades como nas escolas superiores de educação; e os programas de formação contínua revelavam-se incapazes de alterar esta situação e de responder às novas necessidades de desenvolvimento científico e pedagógico. Ao mesmo tempo, eram cada vez mais nítidos os constrangimentos provocados por um concepção errada da carreira docente (modalidades de recrutamento e de colocação, formas de progressão e de avaliação dos professores). Num e noutro caso, produziram-se trabalhos de interesse e de qualidade (veja-se, por exemplo, a documentação apresentada no âmbito da “acreditação da formação de professores”). Mas quase tudo se ficou por aqui.
Na verdade, o momento 1995-1999 não deve ser visto como o início de um novo ciclo na política educativa portuguesa, mas antes como o final de um processo que tem a sua génese nos anos sessenta e que, em Portugal, teve como primeira referência a “reforma Veiga Simão”. Importa, agora, abrir novas perspectivas, que se afastem da visão dominante do planeamento educacional e que, ao mesmo tempo, evitem a equação educação = desenvolvimento, seja na sua formulação utópica, seja na versão das teses do capital humano.
A escola não é o princípio da transformação das coisas. Ela faz parte de uma rede complexa de instituições e de práticas culturais. Não vale mais, nem menos, do que a sociedade em que está inserida. A condição da sua mudança não reside num apelo à grandiosidade da sua missão, mas antes na criação de condições que permitam um trabalho diário, profissionalmente qualificado e apoiado do ponto de vista social. A metáfora do continente (os grandes sistemas de ensino) não convém à escola do século XXI. É na imagem do arquipélago (a ligação entre pequenas ilhas) que melhor identificamos o esforço que importa realizar.
O FIM DA EDUCAÇÃO
A ausência de sociedade
Em 1970, Ivan Illich publicou um livro simbólico. Deschooling society, que em português recebeu o título Sociedade sem escolas, inseria-se numa crítica ao “projecto escolar”, que vinha sendo elaborada em sedes tão diferentes como as sociologias da reprodução, as pedagogias não-directivas, as teorias da libertação, as perspectivas institucionalistas ou os movimentos da educação permanente. A história correu ao contrário das expectativas de Illich. Nos últimos trinta anos assistiu-se a um crescimento dos sistemas escolares, que foram invadindo todos os espaços e tempos da vida. O apelo recente à educação e formação ao longo da vida é o episódio mais recente de um longo processo de escolarização da sociedade.
As teses da “desescolarização” continuam a atrair certas correntes radicais. Escaping Education, de Madhu Prakash e Gustavo Esteva, põe em causa a ideia de que a educação é um “bem universal” e um “direito humano” e defende o regresso à cultura dos não-educados, celebrando “a ingenuidade e a coragem daqueles que sobrevivem apesar das diversas formas de exclusão e de discriminação” que lhes são impostas pela escola (1998, p. 87). Mas, curiosamente, é na emergência de um discurso comunitarista, de feição conservadora ou progressista, que se define hoje a crítica mais sistemática ao modelo escolar.
O comunitarismo, nas suas múltiplas variantes, é uma presença constante nos debates educativos. Os seus limites estendem-se nesse espaço imenso que vai do “individualismo” ao “colectivismo”: “Se a ideologia dominante nos anos sessenta era o colectivismo e, nos anos oitenta, o individualismo, a palavra-chave quando nos aproximamos de um novo milénio é comunitarismo” (Sacks cit. in Arthur, 2000, p. vii). O sucesso do conceito reside, justamente, na sua imprecisão e plasticidade. Ele permite incluir quase tudo: desde o fundamentalismo religioso que se legitima no “bem da comunidade” até às visões radicais de “modelos alternativos” de organização social (Arthur, 2000).
Em 1995, o filósofo Neil Postman publicou um livro que, infelizmente, teve pouca repercussão na Europa. Escrito à maneira das grandes reflexões societais do final do século, The end of education constitui uma réplica ao “fim da História” de Fukuyama, mas acrescenta-lhe o segundo significado do termo: fim, não apenas como “conclusão”, mas também como “finalidade”. O autor interroga-se sobre a crise da escola, mas interessa-se sobretudo pelas novas narrativas que poderão dar sentido à intenção de educar. Ao fazê-lo, rejeita vários deuses que procuram reorganizar o projecto escolar – os deuses da utilidade económica, do consumismo, da tecnologia, do separatismo étnico ou cultural – e argumenta que a educação pública depende da adopção de narrativas partilhadas e da recusa de narrativas que conduzam à alienação ou à separação: “O que torna públicas as escolas públicas não é tanto o facto de terem objectivos comuns, mas o facto de os seus alunos terem objectivos comuns. A razão é simples: a educação pública não serve um público; ela cria um público. (...) A questão essencial não se encontra nos computadores, nos exames, na avaliação dos professores, na dimensão das turmas ou noutros aspectos da gestão das escolas. A questão reside em dois pontos, e apenas em dois: a existência de narrativas partilhadas e a capacidade destas narrativas para darem um sentido inspirador à educação” (1995, p. 18).
A perspectiva de Postman abre um debate que se inscreve numa história, recusando as panaceias que circulam com excessiva ligeireza. É fácil estabelecer consensos em torno de meia dúzia de princípios: exames, standards, avaliação, responsabilidade, mérito, flexibilidade, livre escolha das escolas, acreditação, descentralização, etc. Mas estamos apenas a falar de meios evitando assim uma interrogação sobre os fins. Quais são as narrativas que organizam estes princípios? Sem um pensamento histórico e filosófico cairemos na agitação das palavras e dos instantes. É a pior maneira de travar o debate educativo. Insisto, por isso, na necessidade de incorporar a nossa reflexão na história, de nos incorporarmos na história.
Imagens, Narrativas e Dilemas
Antônio Nóvoa(Universidade de Lisboa)
A nossa civilização está em crise. E o sinal mais evidente é, sem dúvida, o colapso da nossa educação. Pela primeira vez na história, o homem revela-se incapaz de educar os seus filhos. As nossas prodigiosas descobertas em psicologia, as nossas iniciativas pedagógicas, tantas vezes interessantes e generosas, não tornam este diagnóstico mais fácil; bem pelo contrário, tornam-no ainda mais escandaloso. (...) É possível que esta desordem seja, na verdade, a transição para uma ordem superior. É possível. Mas nada nos diz que assim será. Só nos resta uma alternativa: analisar lucidamente o que se passa (Olivier Reboul, 1974).
Inicio com uma citação antiga, que me permite explicar duas intenções que considero essenciais para a leitura deste texto. Por um lado, ela ilustra a recorrência de um “discurso de crise”, que atravessa o pensamento sobre a escola desde finais do século XIX. Olivier Reboul refere-se-lhe a partir de uma hipótese de transição para uma ordem superior. Pela minha parte, argumentarei que estamos a assistir ao fim do “Estado educador”, mas que a solução não está em organizar as escolas no interior de redes privadas (familiares, comunitárias, religiosas, económicas). Reconheço-me nas palavras de Alain, escritas no início do século XX: “A escola não deve estar ao serviço do Estado, nem das famílias” (cf. Reboul, 1974, p. 51). É nesta imensa zona intermédia que imagino as várias possibilidades que podem dar origem a um novo espaço público da educação.
Por outro lado, a citação de Reboul coloca-nos perante a necessidade de uma análise lúcida e informada. Hoje em dia, são os mesmos conceitos e propostas que circulam no plano mundial, como réplicas de um discurso que tem o epicentro nos Estados Unidos da América. Uma vez mais, a educação tende a ser vista como a referência primeira dos projectos de reforma social. As teses mais populares agrupam-se à volta de dois eixos principais: o primeiro, fala de descentralização, autonomia, comunidades, proximidade ao local, envolvimento das famílias; o segundo, de avaliação, eficiência, responsabilidade, disciplina, autoridade, exigência académica. Mas é ilusório o consenso criado à volta destas palavras, que têm dado origem a políticas muito distintas. Só um estudo aturado e rigoroso nos permitirá dissipar a névoa que envolve as controvérsias actuais e compreender o que as inspira.
É por isso que, na primeira parte, Imagens dos tempos que correm, descrevo as fragilidades do pensamento sobre a escola e as razões do insucesso das políticas educativas. Na segunda parte, O fim da educação, identifico algumas das “narrativas” que organizam o debate sobre a escola, pondo em confronto a reconstrução da educação como espaço privado ou a sua renovação como espaço público. Finalmente, na terceira parte, Dilemas da profissão docente, retiro as consequências desta reflexão para o trabalho pedagógico, a partir de uma análise dos dilemas da comunidade, da autonomia e do conhecimento.
Uma ideia está sempre presente no meu espírito. O nosso drama nunca foi “educação a mais”, mas sim “educação a menos”; nunca foi um “excesso de presenças” na escola, mas antes uma certa indiferença e desinteresse.
Devemos trabalhar para aumentar o compromisso social com a educação, acolhendo e apoiando iniciativas de famílias, de associações, de poderes locais ou de professores, que se desenvolvam num quadro de abertura e de integração de todas as crianças. É neste sentido que defendo um espaço público da educação.
IMAGENS DOS TEMPOS QUE CORREM
A Pobreza dos Debates
De tempos a tempos, o país acorda em sobressalto. Ora num arrojo de entusiasmo, até mesmo de paixão, ora num impulso de desespero com o “estado do ensino”. Grupos e personalidades juntam-se em “programas de salvação nacional”, apelando à consciência das elites e do povo. Quem tem por ofício ler os papéis da história conhece bem a inutilidade destes gestos. Programas de salvação e reformas educativas acumulam-se, lado a lado, nas mesmas prateleiras. Serviram, talvez, para sossegar algumas consciências. Não serviram para mudar a nossa relação com a cultura e a educação, nem para transformar as nossas escolas.
O debate tem de ser marcado pela prudência e pela modéstia. Tem de recusar o efeito fácil das “grandes soluções” para abrir a possibilidade de uma mudança consistente e duradoura. Tem de enraizar-se na compreensão histórica dos problemas, sem se esgotar em referências nostálgicas ou futuristas.
Acima de tudo, tem de dar lugar à razão e à lucidez, a um esforço intelectual que nos desloca das evidências e das frases feitas, permitindo-nos novas maneiras de olhar e de sentir. É no tempo longo das coisas humanas, e não na agitação do instante, que gostaria de situar as minhas palavras. Começarei por criticar três discursos, tantas vezes misturados num mesmo gesto, que fecham o pensamento, impedindo-nos de ver para além do que já sabemos: a narrativa do atraso, a radiografia do desastre e o hino ao futuro.
A geração de 1870 inscreveu o tema da decadência na cultura portuguesa e, por via dele, a narrativa do atraso. Desde então, nunca mais deixámos de nos pensar como um “país atrasado”, em particular no sector da educação. A coisa foi dita e repetida. Uma e outra vez, por todas as gerações. E veio até aos nossos dias. Como um estigma de que não conseguimos libertar-nos e que os números foram sucessivamente confirmando: nos censos do final do século XIX, nos anuários internacionais de educação dos anos trinta, nos documentos da Unesco do pós-guerra, nos indicadores da OCDE, nas bases de dados da União Europeia, etc. Lembro apenas o célebre Manifesto de 1897, que pretendia salvar o país do seu défice intelectual: 4/5 dos portugueses não eram verdadeiros cidadãos, eram analfabetos. E, um século mais tarde, o Estudo nacional de literacia: 4/5 dos portugueses não têm condições para exercer uma cidadania activa, pois são incapazes de “seleccionar e organizar informação, relacionar ideias contidas num texto, fundamentar uma conclusão ou decidir que operações numéricas realizar”. A narrativa do atraso do atraso insinua-se com extrema naturalidade: é objectiva, evidente, incontroversa. A sua força reside na sua simplicidade. Imagina-se o mundo como uma escala que mede o grau de “progresso” e aponta-se a solução: subir os patamares um a um até atingir o nível dos países desenvolvidos. Esta narrativa não traz qualquer explicação útil, mas nem por isso deixa de indicar, com arrogante certeza, o rumo a seguir. Ela encerra duas curiosas ironias. Por um lado, acredita que os problemas da escola se resolvem com “mais escola”; dito de outro modo, revela-se incapaz de compreender as insuficiências do “modelo escolar”, tal como ele foi desenhado a partir do final do século XIX. Por outro lado, ignora que a “crise da escola” tem contornos exactamente iguais em Portugal e nos tais “países mais desenvolvidos”; veja-se o caso do Japão, sistematicamente colocado no topo da lista, que está a levar a cabo uma reforma profunda do sistema educativo, para responder à “gravíssima situação de crise do ensino” e para... promover o “renascimento do país”.
Um outro género, muito popular nos últimos anos, é a radiografia do desastre. Apropriado ao registo mediático, desenvolve-se sobretudo no plano da legitimação política. Quem chega ao poder, começa por explicar à nação o “estado deplorável” da escola, abrindo assim a ilusão de um novo ciclo. Adquire-se, por esta via, um capital político que junta a credibilidade do diagnóstico à expectativa da mudança. Vale a pena dar dois exemplos. Até meados dos anos oitenta, a tradição mandava que os ministros tentassem minimizar os problemas e as dificuldades. Roberto Carneiro rompe com esta tradição e, de forma corajosa, dirige-se ao país expondo a situação inaceitável do sistema de ensino. Na altura, a preocupação principal eram os índices altíssimos de “insucesso escolar” e o custo que representavam para o país. Conhecem-se bem as incongruências da política a que este diagnóstico deu origem. Em 1995, a poucos dias de ocupar a pasta da Educação, Marçal Grilo concebe uma notável operação mediática para lançar um dos estudos mais críticos sobre a educação em Portugal. Agora, o tópico são os “níveis assustadores de iliteracia”. Seis anos depois, pouco ou nada se alterou.
Apesar de ter uma construção discursiva bastante distinta, o hino ao futuro junta-se às anteriores maneiras de pensar a educação. Muitas vezes são os mesmos autores que transitam de um estilo para outro, comprimindo o espaço e o tempo de tal modo que o “ontem” e o “amanhã” se fundem num mesmo movimento. A ausência de presente é o traço comum a estas perspectivas, que se definem no registo da “terra prometida”. Em Portugal, este hino tem sido difundido através de duas modalidades principais. Por um lado, os estudos prospectivos, que procuram antecipar os “cenários do futuro”. Impregnados da cultura do planeamento educacional, que domina a política portuguesa desde o início dos anos setenta, têm-se revelado de uma total inutilidade. Por outro lado, as reflexões utópicas, escritas muitas vezes num tom lírico, que pretendem iluminar o caminho a percorrer. Particularmente activas na União Europeia, devido ao desenraizamento que aqui adquirem as políticas, glosam até à exaustão os temas da “sociedade do conhecimento”, das “novas tecnologias” ou da “educação e formação ao longo da vida”. A “paixão pelo futuro” pode ser um bom spot publicitário, mas, em educação, significa quase sempre um “défice de presente” (Nóvoa, 1999).
Estas três maneiras de pensar empobrecem o debate educativo. Criam a ilusão de um conhecimento novo quando, na verdade, se limitam a repetir, década após década, as mesmas ideias e banalidades. As políticas a que foram dando origem mostram bem a sua inconsequência. É por isso que defendo a necessidade de adoptar uma outra perspectiva, procurando uma compreensão histórica na linha defendida por Michel Foucault (1994): uma história do presente que procure identificar as coisas que ainda não foram faladas, que ainda não fazem parte dos nossos sistemas de pensamento. É partir de uma “história dos problemas”, isto é, da forma como historicamente uma determinada realidade se transformou num problema, que poderemos imaginar novas aproximações à questão da escola.
A falência das políticas
Quando se estudam as políticas educativas em Portugal, nos últimos trinta anos, é possível identificar quatro momentos principais, que contêm especificidades próprias, mas nos quais se detectam importantes linhas de continuidade . A análise histórica da educação não se sobrevalorizar as possibilidades da acção governamental. As questões são bem mais complexas e necessitam de ser esclarecidas através de uma multiplicidade de perguntas e olhares. Mas é evidente que o critério político não pode ser ignorado.
O momento fundador pertence à reforma Veiga Simão (1970-1974) e à sua “batalha da educação”. Sustentada numa cultura tecnocrática, que se tinha desenvolvido nos círculos do regime e da oposição nos anos sessenta, e fortemente baseada nas teses do capital humano e do planeamento educacional, a política de Veiga Simão afasta-se da tradição salazarista. As tendências de abertura e de democratização da escola, com importantes medidas no sentido do prolongamento da escolaridade obrigatória e da unificação do ensino, marcam a reforma impossível num país bloqueado pela ditadura.
Forma-se, no entanto, uma geração de especialistas, que associa a perspectiva tecnocrática a uma visão cristã do mundo, dando corpo a uma linguagem que define os mais importantes ministros da Educação da nossa história recente: Vítor Crespo, João de Deus Pinheiro, Roberto Carneiro, Marçal Grilo. A arquitectura da escola portuguesa no final do século XX foi, em grande medida, traçada por estes “engenheiros”.
O segundo momento corresponde à transição dos anos setenta para os anos oitenta. Passado o período revolucionário, consolidam-se maneiras de pensar e de agir que irão delimitar as fronteiras da acção política. Dois aspectos merecem realce, devido às consequências nefastas que tiveram ao longo dos últimos vinte anos. Por um lado, a continuidade de uma visão centralizada do sistema de ensino, num tempo histórico em que a emergência de um poder local democrático teria permitido imaginar outras alternativas; as referências à descentralização e à autonomia das escolas estiveram sempre presentes, mas os passos dados nesta direcção foram de uma enorme timidez. Por outro lado, a incapacidade de romper com uma concepção burocrática e administrativa do trabalho docente, apesar de uma insistente retórica sobre a profissionalização do professorado; para além de políticas de recrutamento e de progressão na carreira que se revelaram inadequadas, as situações mais problemáticas prenderam-se com o modo como foi concebida a formação inicial, em particular nas Escolas Superiores de Educação, e mais tarde a formação contínua de professores.
O terceiro momento é definido pelos trabalhos da Comissão de Reforma do Sistema Educativo, em meados dos anos oitenta, e pelo mandato ministerial de Roberto Carneiro (1987-1991). A linha dominante organizou-se em torno da “reforma curricular”, onde pontificavam Roberto Carneiro e Marçal Grilo, as duas personalidades que mais influenciaram a política educativa no regime democrático. A par de um importante investimento económico e de um crescimento significativo das taxas de escolarização, este período ficou marcado por medidas contraditórias, que contribuíram para uma “desregulação do sistema”, nomeadamente no ensino superior. As bases da reforma curricular revelaram-se inapropriadas, merecendo realce dois aspectos: a incapacidade de ultrapassar a lógica tri-partida do ensino básico, tendo-se mesmo posto em causa uma certa unidade do “ensino primário”, sem trazer nada de novo na organização do 2º e do 3º ciclos; a impossibilidade de resolver o problema do ensino secundário, que continuou esvaziado de uma identidade própria, sem uma clarificação das suas funções culturais, pessoais, académicas e profissionais.
O quarto momento abrange o mandato de Marçal Grilo como titular da pasta da Educação (1995-1999). Rodeado de grande expectativa, após década e meia de ministros social-democratas, ainda hoje é difícil compreender o que falhou.
Aparentemente estavam reunidas as condições necessárias e suficientes para uma acção consistente e coerente: condições políticas – identificação da educação como a grande prioridade governamental; condições económicas – aumento considerável do orçamento da educação; condições sociais – situação de acalmia como nunca existira no Portugal democrático; condições pessoais – qualidades técnicas e humanas, não só do ministro, mas também da equipa que reuniu à sua volta. Em Novembro de 2001, Marçal Grilo publicou um livro notável, O mais difícil é sentá-los, no qual “explica” o seu mandato. Está lá quase tudo: as intrigas e as petites histoires, os estados de alma e os ajustes de contas, os amigos e as cumplicidades, os gostos e os desgostos.
Falta apenas responder à pergunta inevitável: O que é que falhou na definição ou na concretização da política educativa? Em vez desta interrogação, o livro organiza-se numa estratégia típica de blaming , deixando transparecer, a cada passagem, que “a culpa é deles”. “Eles” são os jornalistas, os deputados, os especialistas, os pedagogos, os professores, os sindicalistas ... Alimenta-se, assim,a ilusão da “cadeira vazia” – a ilusão que ninguém ocupou o poder no Ministério da Educação – transferindo a responsabilidade para outras esferas sociais, políticas e profissionais.
Como se escreve num interessante ensaio de Seymour Sarason: “Os dirigentes políticos costumam culpar directamente grupos e forças que se encontram fora do sistema político. Implícita e explicitamente, estes dirigentes políticos consideram que o fracasso das reformas se deve a um sistema educativo incapaz de se renovar. Concordo com eles neste ponto, mas discordo totalmente da maneira como olham para os acontecimentos como se não tivessem tido qualquer responsabilidade neste fracasso. Não aprenderam nada” (1998, p. 5).
Ainda que de forma breve, vale a pena esboçar três ideias que podem contribuir para explicar as fragilidades da política educativa neste período: o pacto como política, a aparência da autonomia e o “bloqueio” da profissão docente.
Em 1995, a “pacificação” e o pacto educativo transformam-se no objectivo primeiro da acção governativa. Aceita-se a intenção de Marçal Grilo, num esforço para “credibilizar o sector”, como então se dizia. Esta política conduz à procura de consensos, que obrigam a evitar os sinais dissidentes.
Uma das consequências é a redução dos trabalhos de investigação e dos dispositivos de avaliação, nacionais e internacionais, que possam afectar a “imagem” que se quer criar. Outra, é a necessidade de uma política do “espectáculo”, no sentido em que Guy Debord (1992) utiliza este conceito. Mas, muito cedo, o pacto deixa de ser considerado um instrumento para se transformar num fim em si mesmo. Tornou-se inútil.
Desde meados dos anos oitenta que a “autonomia” e a “descentralização” se tornaram referências indispensáveis nos programas científicos e políticos: a investigação educacional elaborou propostas de gestão, de organização curricular e de desenvolvimento profissional centradas nos estabelecimentos de ensino; o discurso político chamou a atenção para a necessidade de uma maior presença das “comunidades locais” na vida das escolas. O primeiro governo socialista apropriou-se destas ideias e fez tenção de as transformar em acção política. Mas a incapacidade de abandonar uma visão centralizadora e a desconfiança em relação aos pais, aos poderes locais e aos professores não permitiram que a autonomia passasse de mera aparência. Não faltaram estudos bem elaborados. Faltou capacidade política para os pôr em prática.
No decurso da década de noventa tornou-se evidente a inadequação do sistema de formação inicial de professores, tanto nas universidades como nas escolas superiores de educação; e os programas de formação contínua revelavam-se incapazes de alterar esta situação e de responder às novas necessidades de desenvolvimento científico e pedagógico. Ao mesmo tempo, eram cada vez mais nítidos os constrangimentos provocados por um concepção errada da carreira docente (modalidades de recrutamento e de colocação, formas de progressão e de avaliação dos professores). Num e noutro caso, produziram-se trabalhos de interesse e de qualidade (veja-se, por exemplo, a documentação apresentada no âmbito da “acreditação da formação de professores”). Mas quase tudo se ficou por aqui.
Na verdade, o momento 1995-1999 não deve ser visto como o início de um novo ciclo na política educativa portuguesa, mas antes como o final de um processo que tem a sua génese nos anos sessenta e que, em Portugal, teve como primeira referência a “reforma Veiga Simão”. Importa, agora, abrir novas perspectivas, que se afastem da visão dominante do planeamento educacional e que, ao mesmo tempo, evitem a equação educação = desenvolvimento, seja na sua formulação utópica, seja na versão das teses do capital humano.
A escola não é o princípio da transformação das coisas. Ela faz parte de uma rede complexa de instituições e de práticas culturais. Não vale mais, nem menos, do que a sociedade em que está inserida. A condição da sua mudança não reside num apelo à grandiosidade da sua missão, mas antes na criação de condições que permitam um trabalho diário, profissionalmente qualificado e apoiado do ponto de vista social. A metáfora do continente (os grandes sistemas de ensino) não convém à escola do século XXI. É na imagem do arquipélago (a ligação entre pequenas ilhas) que melhor identificamos o esforço que importa realizar.
O FIM DA EDUCAÇÃO
A ausência de sociedade
Em 1970, Ivan Illich publicou um livro simbólico. Deschooling society, que em português recebeu o título Sociedade sem escolas, inseria-se numa crítica ao “projecto escolar”, que vinha sendo elaborada em sedes tão diferentes como as sociologias da reprodução, as pedagogias não-directivas, as teorias da libertação, as perspectivas institucionalistas ou os movimentos da educação permanente. A história correu ao contrário das expectativas de Illich. Nos últimos trinta anos assistiu-se a um crescimento dos sistemas escolares, que foram invadindo todos os espaços e tempos da vida. O apelo recente à educação e formação ao longo da vida é o episódio mais recente de um longo processo de escolarização da sociedade.
As teses da “desescolarização” continuam a atrair certas correntes radicais. Escaping Education, de Madhu Prakash e Gustavo Esteva, põe em causa a ideia de que a educação é um “bem universal” e um “direito humano” e defende o regresso à cultura dos não-educados, celebrando “a ingenuidade e a coragem daqueles que sobrevivem apesar das diversas formas de exclusão e de discriminação” que lhes são impostas pela escola (1998, p. 87). Mas, curiosamente, é na emergência de um discurso comunitarista, de feição conservadora ou progressista, que se define hoje a crítica mais sistemática ao modelo escolar.
O comunitarismo, nas suas múltiplas variantes, é uma presença constante nos debates educativos. Os seus limites estendem-se nesse espaço imenso que vai do “individualismo” ao “colectivismo”: “Se a ideologia dominante nos anos sessenta era o colectivismo e, nos anos oitenta, o individualismo, a palavra-chave quando nos aproximamos de um novo milénio é comunitarismo” (Sacks cit. in Arthur, 2000, p. vii). O sucesso do conceito reside, justamente, na sua imprecisão e plasticidade. Ele permite incluir quase tudo: desde o fundamentalismo religioso que se legitima no “bem da comunidade” até às visões radicais de “modelos alternativos” de organização social (Arthur, 2000).
Em 1995, o filósofo Neil Postman publicou um livro que, infelizmente, teve pouca repercussão na Europa. Escrito à maneira das grandes reflexões societais do final do século, The end of education constitui uma réplica ao “fim da História” de Fukuyama, mas acrescenta-lhe o segundo significado do termo: fim, não apenas como “conclusão”, mas também como “finalidade”. O autor interroga-se sobre a crise da escola, mas interessa-se sobretudo pelas novas narrativas que poderão dar sentido à intenção de educar. Ao fazê-lo, rejeita vários deuses que procuram reorganizar o projecto escolar – os deuses da utilidade económica, do consumismo, da tecnologia, do separatismo étnico ou cultural – e argumenta que a educação pública depende da adopção de narrativas partilhadas e da recusa de narrativas que conduzam à alienação ou à separação: “O que torna públicas as escolas públicas não é tanto o facto de terem objectivos comuns, mas o facto de os seus alunos terem objectivos comuns. A razão é simples: a educação pública não serve um público; ela cria um público. (...) A questão essencial não se encontra nos computadores, nos exames, na avaliação dos professores, na dimensão das turmas ou noutros aspectos da gestão das escolas. A questão reside em dois pontos, e apenas em dois: a existência de narrativas partilhadas e a capacidade destas narrativas para darem um sentido inspirador à educação” (1995, p. 18).
A perspectiva de Postman abre um debate que se inscreve numa história, recusando as panaceias que circulam com excessiva ligeireza. É fácil estabelecer consensos em torno de meia dúzia de princípios: exames, standards, avaliação, responsabilidade, mérito, flexibilidade, livre escolha das escolas, acreditação, descentralização, etc. Mas estamos apenas a falar de meios evitando assim uma interrogação sobre os fins. Quais são as narrativas que organizam estes princípios? Sem um pensamento histórico e filosófico cairemos na agitação das palavras e dos instantes. É a pior maneira de travar o debate educativo. Insisto, por isso, na necessidade de incorporar a nossa reflexão na história, de nos incorporarmos na história.
Não para que dela fiquemos prisioneiros: a história não é uma fatalidade, é uma possibilidade. Mas para que, a partir dela, saibamos encontrar novos caminhos para dizer a nossa intenção de educar.
“Não são boas as notícias sobre as escolas, dizem-nos. Somos constantemente recordados do seu fracasso. Os nossos filhos não estão a ser devidamente preparados para enfrentarem os desafios do presente e do futuro. O nosso sistema educativo é ineficiente e ineficaz, como revelam os maus resultados dos alunos e a situação generalizada de indisciplina. Os nossos professores têm uma má formação e estão mais preocupados com os seus interesses do que com os alunos ou com a economia do país. O conhecimento que se ensina nas escolas é obscuro e medíocre e não consegue elevar os padrões morais da nação” (Apple, 1999, p. xv). Esta citação abre um livro recente sobre as contradições da reforma educativa nos Estados Unidos da América. Poderia abrir um outro livro qualquer, em qualquer outra parte do mundo.
Ao longo do século XX, concepções pedagógicas, psicológicas e sociológicas da infância foram-se misturando com “ideologias de salvação”, alimentando a ilusão da escola como lugar de “redenção pessoal” e de “regeneração social”.
No mesmo tempo histórico, a demissão das famílias e das comunidades das suas funções educativas e culturais ia transferindo para as escolas um excesso de missões. Para além do “currículo tradicional”, vagas sucessivas de reformas foram acrescentando novas técnicas e saberes, bem como um conjunto interminável de programas sociais, culturais e assistenciais: educação sexual, combate à droga e à violência, educação ambiental e ecológica, formação para as novas tecnologias, prevenção rodoviária, clubes europeus, actividades artísticas e desportivas, oficinas dos mais diversos tipos, grupos de defesa do artesanato e das culturas locais, educação para a cidadania... A lista poderia ocupar o resto deste artigo. Ninguém duvida que, isoladamente, cada um destes programas é da maior relevância. Mas, vistos no seu conjunto, ilustram bem a amálgama em que se transformou a nossa ideia de educação.
Sociedade sem escolas, propôs Illich. Escolas sem sociedade, constatamos nós trinta anos mais tarde. “Sem sociedade”, porque estamos perante uma ruptura do pacto histórico que permitiu a consolidação e a expansão dos sistemas públicos de ensino e que constituiu uma das grandes marcas civilizacionais do século XX. “Sem sociedade”, porque hoje, para muitos alunos e para muitas famílias, a escola não tem qualquer sentido, não se inscreve numa narrativa coerente do ponto de vista dos seus projectos pessoais ou sociais. Não conseguiremos ir longe nas nossas reflexões, se não compreendermos o alcance desta dupla ausência de sociedade, que, paradoxalmente, projecta sobre os professores expectativas e missões que jamais poderão cumprir.
Neste contexto, não espanta que os debates apontem fortemente para um compromisso social com a educação. As referências sistemáticas à escola como “responsabilidade de todos”, as políticas recorrentes de descentralização e de “proximidade com o local” ou o discurso comunitarista são facetas diversas desta mesma preocupação. Mas é preciso reconhecer que os acordos param aqui. Que fazer? A pergunta recebe as mais variadas e contraditórias respostas. Correndo o risco de uma excessiva simplificação, argumentarei que há duas grandes tendências, que em certos momentos se sobrepõem, mas que encerram narrativas distintas do projecto educativo: a reconstrução da educação como espaço privado e a renovação da educação como espaço público.
A divisão é puramente analítica. Procura iluminar algumas das correntes actuais que atravessam o debate educativo. Não tem qualquer intenção programática. É fácil reconhecer que muitas das tendências que a seguir aparecem analiticamente separadas, se encontram misturadas na “vida real” através de programas e de iniciativas que buscam inspiração em diferentes ideias e perspectivas (Levin, 2001). Não tenho qualquer intenção de regressar à querela escola privada/escola pública. Em certa medida, a questão da “propriedade” dos estabelecimentos de ensino é-me indiferente.
Historicamente, muitas instituições privadas cumpriram uma função pública e muitas instituições públicas apenas serviram interesses privados. O meu objectivo é explicar a diferença entre uma narrativa privada e uma narrativa pública da educação, na acepção assinalada por Neil Postman. Ou, para ser ainda mais preciso, entre perspectivas que organizam a educação numa esfera privada ou numa esfera pública, para recorrer à contribuição teórica de Jürgen Habermas no seu trabalho The structural transformation of the public sphere (cf. Fraser, 1997). É este o sentido da minha interrogação.
A reconstrução da educação como espaço privado
A “crise da escola” tem dado origem a reacções várias que procuram “recolher” ou “proteger” as crianças em espaços privados, justificadas ora com argumentos sociais (ausência de valores e violência crescente nas escolas), ora com argumentos académicos (ensino deficiente e professores medíocres) . É preciso não construir uma unidade artificial em torno de correntes e perspectivas que têm origens e motivações muito distintas (Carnoy, 2000; Gorard, Fitz & Taylor, 2001). A combinação de um individualismo assente em ambientes familiares e religiosos com uma lógica de mercado e de competição tem-se revelado muito poderosa e influente. Mas não tem conduzido a um plano único de acção. Bem pelo contrário, há uma multiplicidade de soluções e de políticas. Nas suas análises, Henry Levin tem chamado a atenção para quatro critérios – liberdade de escolha, eficiência, equidade e coesão social – que considera essenciais para estudar as políticas de privatização: “Diferentes planos valorizam diferentes prioridades no âmbito destes quatro critérios. Dentro de certos limites, estes planos são muito flexíveis e podem ser desenhados para atingirem prioritariamente determinados objectivos” (2001, p. 9).
A partir de um estudo da situação nos Estados Unidos da América, mas também em certos países europeus e sul-americanos , é possível identificar três grandes tendências de privatização: o ensino doméstico, os cheques-ensino e as escolas contratualizadas.
O ensino doméstico. O regresso a práticas de ensino doméstico (home schooling), à maneira da educação das elites no século XIX, é um dos fenómenos mais curiosos dos últimos anos. A partir de preocupações de “coerência” e de “protecção” dos herdeiros, estas práticas têm-se desenvolvido a um ritmo muito significativo, dando origem, nalguns países, à emergência de um verdadeiro sistema educativo paralelo. Nos Estados Unidos da América, mais de um milhão de crianças e jovens, entre os 5 e os 17 anos de idade, são educados em casa. É uma situação limite de “clausura social” que tem duas estruturas principais de suporte: um conjunto de empresas privadas que elaboram programas de formação e de “supervisão pedagógica” dos pais e lhes fornecem materiais curriculares e didácticos ; uma rede muito activa de “comunidades religiosas” que enquadram e legitimam, do ponto de vista moral e social, grande parte destes processos (Spring, 2002). As associações religiosas, nomeadamente as redes das “escolas cristãs” , desempenham um papel essencial na criação de uma mundividência que define estas formas de educar.
Os cheques-ensino. Os cheques-ensino, tradução que tem sido adoptada para educational vouchers, são a modalidade mais conhecida de “escolha educacional” . No entanto, a sua aplicação concreta tem sido, pelo menos até agora, bastante limitada. Nos Estados Unidos da América, apesar da visibilidade que adquiriram no debate político, estes programas são muito escassos, abrangendo apenas cerca de 15.000 alunos (Witte, 2000). Um dos
seus principais defensores, Terry Moe, afirma que o movimento tem, tradicionalmente, dois grandes pilares: “o conservadorismo e a religião” (2001, p. 3). Todavia, a designação cheques-ensino serve para abrigar políticas muito distintas. Por isso, os investigadores procuram centrar os seus estudos, cada vez mais, na estrutura concreta dos diferentes programas.
O princípio da universalidade dos cheques-ensino (universal vouchers), tal como foi inicialmente formulado por Milton Friedman, tende a ser abandonado. Pelo contrário, as iniciativas que se dirigem prioritariamente a alunos de meios desfavorecidos (targeted vouchers) têm vindo a conquistar o apoio da “opinião pública” (Moe, 2001). Não há ainda elementos que permitam avaliar com rigor o impacto académico e social destas políticas. O pouco que se conhece parece não confirmar nem as expectativas dos seus adeptos (os cheques-ensino ajudariam a melhorar os resultados escolares dos alunos), nem os receios dos seus adversários (os cheques-ensino contribuiriam para acentuar as desigualdades sociais e escolares) .
As escolas contratualizadas. “Escolas contratualizadas” é uma tradução imperfeita do conceito de charter schools. Nos Estados Unidos da América, o movimento iniciou-se há dez anos e conta já com 2500 escolas, abrangendo uma população escolar de 600.000 alunos . Vários autores consideram que se trata da iniciativa mais radical de transformação do sistema educativo (Hassel, 1999). Apesar de consagrarem um “modelo híbrido”, entre o público e o privado, são portadoras de um discurso comunitarista, de feição política ou religiosa, que procura preservar os ambientes escolares de uma excessiva “contaminação social”. A literatura abundante que tem sido produzida sobre este tema revela, sem margem para dúvidas, um conjunto muito significativo de experiências bem sucedidas; mas mostra, também, uma grande instabilidade das escolas, devido às próprias condições conjunturais que conduziram à sua criação (uma dinâmica associativa, um determinado grupo de pais, uma iniciativa política local, etc.) .
Neste caso, a distinção público/privado é particularmente problemática: “Estas propostas não significam necessariamente a privatização do financiamento ou dos meios educativos. Podem significar, isso sim, a privatização do propósito da educação, na medida em que procuram responder apenas aos interesses privados de certos grupos ou indivíduos” (Lubienski, 2001, p. 660).
Referindo-se ao conjunto destas iniciativas, Seymour Sarason chama a atenção para o voluntarismo que as caracteriza e para as dificuldades que se levantam à criação e à consolidação de novas instituições e dispositivos de formação . É uma observação muito lúcida, que nos põe de sobreaviso quanto a duas ilusões que a ambiência dos debates vai alimentando com excessiva ligeireza. Por um lado, a ilusão de que estaríamos perante uma lógica de não-reforma, que estabilizaria a vida das escolas e dos alunos. Nada mais falso. Estamos perante iniciativas muito complexas, que exigem longos processos de aprendizagem e de experimentação:
“se é verdade que muitas destas escolas terão sucesso, é fácil prever que serão ainda mais as que fracassarão” (Sarason, 1998, p. 5). Por outro lado, a ilusão de que tudo isto se traduziria, por um golpe de magia, “em melhor educação a preços mais baratos”. Nada mais errado. A reconstrução da
educação como espaço privado obriga a novos e importantes investimentos, tanto das famílias como dos poderes públicos e do sector privado.
Desfazer estas ilusões, permite repor o debate no seu lugar: qual é o fim da educação? Qual é a narrativa que nos orienta? No seu último livro, Philippe Perrenoud explica que, se cada comunidade religiosa, étnica ou linguística, se cada classe social, se cada subgrupo da sociedade edificasse a sua
própria escola, haveria sem dúvida um acordo mais profundo entre essa escola e aqueles que a frequentam: “Cada uma dessas escolas poderia adaptar as ciências, a arte, a filosofia, a história, a geografia, a educação para a cidadania ou a educação física à visão do mundo da comunidade em que ela se enraizaria, de onde retiraria os seus meios de existência e onde recrutaria os seus mestres. Esta harmonia entre cada comunidade e a educação escolar destinada às suas crianças teria evidentemente um preço: as escolas seriam mobilizadas nas guerras de religião, nos conflitos étnicos ou linguísticos, nos confrontos entre classes sociais: elas contribuiriam para a divisão da sociedade e não para a sua unidade” (2002, p. 13). Ao modelo de a cada um a sua escola, à perspectiva de uma educação que tende a “fechar” as crianças nos seus meios sociais e nas suas culturas de origem, contraponho nas páginas seguintes a vontade de renovar a educação como espaço público.
A renovação da educação como espaço público
A afirmação da originalidade e da individualidade é um dos traços marcantes da cultura contemporânea. No campo educativo, todas as experiências e iniciativas reivindicam um carácter único e é este facto que as torna possíveis e lhes dá sentido. Mas um simples relance pelo mundo permite compreender que são as mesmas propostas e discursos que circulam de um “local” para outro “local”. A especificidade só é viável quando se integra em maneiras de pensar que se impuseram na nova “sociedade de redes e de fluxos”.
Repensar a educação como espaço público implica interrogar criticamente o one best system, para utilizar a expressão consagrada por David Tyack (1974), e compreender as razões que impediram a escola de cumprir muitas das suas promessas históricas. É a partir deste lugar que poderemos imaginar propostas que reconciliem a escola com a sociedade e chamem a sociedade a uma maior presença na escola.
O debate tornou-se inadiável: Como conseguir que as famílias e as comunidades sintam que a escola lhes pertence sem que, ao mesmo tempo, se fechem na “sua” escola? Como conseguir que a educação responda aos anseios e aos desejos de cada um sem que, ao mesmo tempo, renuncie à integração de todos numa cultura partilhada? As soluções do passado não respondem às perguntas do presente. Nas páginas seguintes, deixarei três apontamentos breves, sugerindo algumas pistas para a renovação da educação como espaço público.
O “poder organizador” das escolas. Inspirando-se no exemplo belga, Philippe Perrenoud (2002) mobiliza o conceito de “poder organizador” para sugerir novas modalidades de funcionamento das escolas. Há um campo aberto de possibilidades, entre visões extremas do “Estado” e do “mercado”: “O verdadeiro desafio consiste em evitar processos atomizados de decisão, consolidando uma responsabilidade colectiva pela educação, sem recriar lógicas de planeamento centralizado (...) que ajudaram a legitimar a tendência actual para considerar a educação como bem privado e não como responsabilidade pública” (Whitty, 2001, p. 218). Portugal é, historicamente, um dos países com maior presença estatal na regulação do espaço educativo. A questão da pertença da escola nem sequer foi objecto de grande controvérsia ao longo do século XX. Para tal muito contribuiu a aliança entre o regime salazarista e a Igreja, que afastou as famílias, as comunidades locais e os professores de qualquer participação na organização e na direcção das escolas. O espírito associativo, no quadro de práticas de autonomia das instituições escolares, foi entre nós sistematicamente asfixiado. O regresso a dinâmicas associativas, desenvolvidas no quadro de uma narrativa pública da educação, permitirá evitar as tendências burocráticas e corporativas, sem cair numa visão fragmentada dos alunos como “clientes” e das escolas como “serviço privado” (Castells, 1996; Touraine, 1992).
A escola como realidade multipolar. Historicamente, os sistemas de ensino organizaram-se a partir do “topo”, adoptando estruturas burocráticas, corporativas e disciplinares que foram dissolvendo modos locais, familiares e tradicionais de promover a educação. A escola foi substituindo estes processos “informais”, assumindo o monopólio do ensino. Os professores tornaram-se os responsáveis públicos pela formação das crianças. Hoje, sabemos que este modelo escolar – espaços físicos fechados, estruturas curriculares rígidas, formas arcaicas de organização do trabalho – está fatalmente condenado. A escola terá de se definir como um espaço público, democrático e participado, no quadro de redes de comunicação e de cultura, de arte e de ciência. Numa curiosa ironia do destino, o seu futuro passa pela capacidade de “recuperar” práticas antigas (familiares, sociais, comunitárias), enunciando-as no contexto de modalidades novas de cultura e de educação. Mas uma extrema prudência é necessária: os movimentos sociais estabelecem-se num voluntarismo de curta duração, enquanto o trabalho escolar se define num tempo necessariamente longo. Em Portugal, com raríssimas excepções, as estruturas sociais ou associativas de suporte à educação são de uma enorme fragilidade. É essencial reforçá-las e dar-lhes maior consistência. Delas depende, em grande parte, a renovação do espaço público da educação.
Um novo espaço de conhecimento. Os debates sobre a escola ignoram frequentemente o tema do conhecimento. É verdade que, hoje, ele se encontra disponível numa diversidade de formas e de lugares. Mas o momento do ensino é fundamental para o explicar, para revelar a sua evolução histórica e para preparar a sua apreensão crítica. Há quatro pontos que merecem ser brevemente assinalados. Em primeiro lugar, evitar que a educação exclua a “contemporaneidade”, reduzindo-se apenas às formas clássicas de conhecimento. Em segundo lugar, contrariar tendências de desvalorização do conhecimento; a pedagogia está indissociavelmente ligada aos conteúdos de ensino. Em terceiro lugar, admitir novas formas de relação ao saber; a realidade actual do mundo da ciência e da arte define-se por uma complexidade e uma imprevisibilidade que a escola não pode continuar a ignorar. Em quarto lugar, compreender o impacto das tecnologias da informação e da comunicação, que transportam formas novas de conhecer e de aprender: “um dos maiores desafios da Galáxia Internet é a instalação de capacidades de processamento da informação e de produção de conhecimento em cada um de nós – e particularmente em cada criança” (Castells, 2001, p. 278). Estas tensões não são recentes, mas têm novos contornos numa sociedade que se diz “do conhecimento”.
As ideias anteriores procuram lançar as bases da renovação da educação como espaço público. Referi a necessidade de reforçar o poder de iniciativa e a presença social nas escolas, o que levanta a questão da comunidade. Mencionei, depois, a reorganização da escola como realidade multipolar, composta de lugares físicos e de lugares virtuais, o que sugere a questão da autonomia. Abordei, por último, a temática do saber e da sua recomposição na sociedade actual, o que coloca a questão do conhecimento. Na última parte deste texto, argumento que estas três questões se traduzem em dilemas para a profissão docente, com importantes consequências no trabalho pedagógico e na formação de professores.
DILEMAS DA PROFISSÃO DOCENTE
Historicamente, a identidade profissional dos professores constituiu-se a partir de uma separação e independência das comunidades locais. Portugal foi um dos primeiros países a conceder o estatuto de “funcionário público” aos mestres e aos professores régios, na sequência das reformas pombalinas do final do século XVIII. O processo de profissionalização do professorado fez-se sob a tutela do Estado, ainda que não se deva ignorar o papel desempenhado pelos movimentos associativos desde as décadas iniciais do século XIX. Os professores nunca aceitaram prestar contas do seu trabalho às comunidades locais e o seu ethos profissional definiu-se por “internalização” e não por “externalização” (Nóvoa, 1987). Mas, hoje em dia, todos os discursos apontam para a necessidadede os professores refazerem uma ligação forte ao espaço comunitário. Eis um dos principais dilemas que têm de enfrentar.
O conceito de “autonomia” é o mais problemático do léxico educacional. Por agora, interessa-me apenas assinalar o processo histórico que foi conduzindo a uma uniformização dos modos de trabalho pedagógico. A consolidação de uma mesma “gramática da escola” é uma realidade mundial que, no caso português, se tornou mais nítida pela presença de uma burocracia centralizadora (Nóvoa, 1998). Mesmo quando a retórica da diversidade foi mais intensa, as escolas funcionaram segundo lógicas muito semelhantes. Hoje, a renovação do “modelo escolar” depende, em grande medida, da sua capacidade para construir respostas diferentes, não só do ponto de vista pedagógico, mas também organizativo. Eis um segundo dilema da profissão docente.
Os professores nunca viram o seu conhecimento específico devidamente reconhecido. Mesmo quando se insistiu na importância da sua missão, a tendência foi sempre para considerar que lhes bastava dominarem bem a “matéria” e possuírem um certo jeito para comunicar e para lidar com os alunos. O resto era dispensável. Tais posições conduzem, inevitavelmente, ao desprestígio da profissão, cujo saber perde qualquer “valor de troca” no mercado académico e universitário. Se levarmos este raciocínio até ao fim, deparamo-nos com um curioso paradoxo: “semi-ignorantes”, os professores são considerados as pedras-chave da nova “sociedade do conhecimento”. A mais complexa das actividades profissionais é, assim, reduzida ao estatuto de coisa simples e natural. Eis um terceiro dilema que os professores têm pela frente.
São estas três entradas que organizam a última parte deste texto . Defenderei que os programas de formação têm de desenvolver três “famílias de competências” – saber relacionar e saber relacionar-se, saber organizar e saber organizar-se, saber analisar e saber analisar-se – que são essenciais para que os professores se situem no novo espaço público da educação. Na sua definição, utilizo as formas transitivas e pronominais dos verbos, para sublinhar que os professores são, ao mesmo tempo, objectos e sujeitos da formação. É no trabalho individual e colectivo de reflexão que eles encontrarão os meios necessários ao seu desenvolvimento profissional.
O dilema da comunidade:
Redefinir o sentido social do trabalho docente no novo espaço público da educação ou da importância de saber relacionar e de saber relacionar-se.
Se num jantar conheceres um homem que dedicou a sua vida a educar-se a si próprio – exemplar raro no nosso tempo, admito-o, mas ainda assim possível de se encontrar, ocasionalmente – levantar-te-ás da mesa mais rico, com a certeza que, por um momento, um alto ideal tocou e benzeu os teus dias. Mas, meu caro Ernesto, sentares-te ao lado de um homem que passou a sua vida a tentar educar os outros! Que horrível experiência essa! (Oscar Wilde, 1891).
A concepção da escola como um espaço aberto, em ligação com outras instituições culturais e científicas e com uma presença forte das comunidades locais, obriga os professores a redefinirem o sentido social do seu trabalho. Afastando-se de filiações burocráticas e corporativas, têm de refazer uma identidade profissional que valorize o seu papel como animadores de redes de aprendizagem, como mediadores culturais e como organizadores de situações educativas. É verdade que tal evolução conduzirá a uma maior abertura das escolas e dos professores, que ficarão mais vulneráveis e acessíveis ao escrutínio público. Mas esta “vulnerabilidade” é a condição necessária do seu prestígio social e da sua afirmação profissional (Hargreaves, 2000).
Todavia – e aqui regresso à citação de Oscar Wilde que abre este ponto – nada será alterado se continuarmos a repetir, sob as mais variadas formas, uma visão desvalorizada do trabalho docente. Uma maior exposição pública exige níveis de confiança profissional que não são compatíveis com muitas das imagens que tradicionalmente circulam sobre os professores. Uma das razões principais deste equívoco prende-se com a convicção que o ensino é uma actividade relativamente “simples”, que se exerce “naturalmente”. Limito-me a delinear três ideias que criticam esta concepção.
Contrariamente a outros profissionais, o trabalho do professor depende da “colaboração” do aluno: “um cirurgião opera com o doente anestesiado e um advogado pode defender um cliente silencioso, mas o sucesso do professor depende da cooperação activa do aluno” (Labaree, 2000, p. 228). Ninguém ensina quem não quer aprender. Em 1933, John Dewey sugeriu, numa comparação provocatória, que do mesmo modo que não é possível ser bom vendedor se não existir alguém que compre, também não é possível ser bom professor se não houver alguém que aprenda. O problema torna-se ainda mais complicado se atendermos à circunstância de a presença do aluno na escola não ser produto de um acto de vontade, mas sim de uma imposição social e familiar. Regresso ao tema da “ausência de sociedade” e à importância do professor repensar o seu trabalho no quadro de novas redes e relações sociais.
Mas a actividade docente caracteriza-se igualmente por uma grande complexidade do ponto de vista emocional. Os professores vivem num espaço carregado de afectos, de sentimentos e de conflitos. Quantas vezes prefeririam não se envolver... Mas sabem que tal distanciamento seria a negação do seu próprio trabalho. Que ninguém tenha ilusões. Ao alargarmos o espaço da escola, para nele incluirmos um conjunto de outros “parceiros”, estamos inevitavelmente a tornar ainda mais difícil este processo. Os professores têm de ser formados, não apenas para uma relação pedagógica com os alunos, mas também para uma relação social com as “comunidades locais”.
Registe-se, por fim, que pedimos à educação que cumpra objectivos distintos e, por vezes, contraditórios: desenvolver a pessoa e formar o trabalhador, assegurar a igualdade de oportunidades e a selecção social, promover a mobilidade profissional e a coesão social. Muitas vezes, insistimos num discurso de prestação de serviços a um “cliente”, cuja identidade nem sequer conseguimos claramente definir: “Numa certa perspectiva, o cliente é o aluno. Numa outra, são as famílias. Num terceiro plano, é a comunidade no seu conjunto, que paga a educação e que exige a formação de cidadãos competentes e de trabalhadores eficazes. Manter todos estes clientes satisfeitos não é tarefa fácil” (Labaree, 2000, p. 231).
Os cenários que acabo de descrever sugerem novos sentidos para o trabalho docente, conduzindo à valorização de um conjunto de competências profissionais que poderão ser sintetizadas nas figuras saber relacionar e saber relacionar-se. O “novo” espaço público da educação chama os professores a uma intervenção técnica, mas também a uma intervenção política, a uma participação nos debates sociais e culturais, a um trabalho continuado junto das comunidades locais. A formação de professores tem concedido pouca atenção a esta “família de competências” – expressivas e comunicacionais, tecnológicas e sociais – que definem grande parte do futuro da profissão. Num certo sentido, é a própria concepção de trabalho pedagógico, tal como se consolidou nas escolas durante o último século, que se encontra posta em causa. Estamos perante uma transição fundamental nos processos identitários dos professores.
O dilema da autonomia:
Repensar o trabalho docente numa lógica de projecto e de colegialidade ou da importância de saber organizar e de saber organizar-se
A primeira característica chocante no funcionamento actual das escolas é o seu carácter cego. As outras instituições interrogam-se periodicamente sobre elas próprias, reflectindo colectivamente em instâncias qualificadas sobre o seu funcionamento. Esta prática é desconhecida nos estabelecimentos de ensino. E estamos de tal modo habituados a este funcionamento às cegas, que já nem sequer damos por ele (Antoine Prost, 1992).
O “projecto de escola” e a “colegialidade docente” são dois discursos que têm dominado os debates educativos no último decénio. Integrados em movimentos de renovação com origens e intenções muito diversas, sugerem modalidades novas de organização das escolas e da profissão, a partir do conceito mágico de “autonomia”.
Num primeiro registo (projecto de escola), é preciso reconhecer que não temos prestado a devida atenção às formas de organização do trabalho escolar. Pensamos nos professores e na sua formação, nos currículos e nos programas, nas estratégias pedagógicas e nas metodologias, mas raramente nos temos interrogado sobre a organização do trabalho na escola: definição dos espaços e dos tempos lectivos, agrupamento dos alunos e das disciplinas, modalidades de ligação à “vida activa”, gestão dos ciclos de aprendizagem, etc. É evidente que há um conjunto de experiências muito interessantes, que foram sendo integradas na memória da profissão, alargando o repertório dos
professores. Mas tem faltado um esforço de teorização e de sistematização, como explica Philippe Perrenoud no capítulo anterior deste livro: “A forma escolar implodirá se não conseguir romper com a organização convencional do trabalho escolar. Para avançarmos nesta dissociação, falta-nos uma linguagem, conceitos e a representação partilhada de formas alternativas (ou, pelo menos, um mínimo de pistas de investigação)”. É aqui que se decide uma educação que não se esgota no espaço-tempo da sala de aula, mas que se projecta em múltiplos lugares e ocasiões de formação.
Num segundo registo (colegialidade docente), é preciso reconhecer que não temos prestado a devida atenção às formas de organização do trabalho profissional. Pensamos no professor a título individual, nos seus saberes e capacidades, mas raramente nos temos interrogado sobre essa “competência colectiva” que é mais do que a soma das “competências individuais”. A literatura especializada tem analisado esta questão, a partir de estudos sobre os ciclos de vida dos professores, os primeiros anos de exercício profissional, os dispositivos de acompanhamento e supervisão, o desenvolvimento profissional, etc. (Nóvoa, 2002). Mas vários autores assinalam que estamos, muitas vezes, perante discursos de moda que têm um impacto limitado na vida dos professores. É importante, por isso, que se caminhe no sentido de promover a organização de espaços de aprendizagem inter-pares, de troca e de partilha. Não se trata, apenas, de uma simples colaboração, mas da possibilidade de inscrever os princípios de colectivo e de colegialidade na cultura profissional dos professores.
As figuras saber organizar e saber organizar-se procuram chamar a atenção para a necessidade de repensar o trabalho escolar e o trabalho profissional. São mudanças que obrigam a uma nova atitude, nomeadamente na definição de práticas e de dispositivos de avaliação, no interior e no exterior das escolas e da profissão docente. É por isso que decidi abrir este ponto com palavras de Antoine Prost que constam do livro As organizações escolares em análise, publicado em 1992, sob a minha coordenação. Propor um novo espaço público da educação implica, obviamente, uma ideia de abertura que passa por um reforço dos dispositivos de avaliação. Eles são um instrumento essencial do diálogo entre as escolas e a sociedade. Mas são também um instrumento para a regulação interna da acção pedagógica e profissional.
É inútil acreditar na avaliação como panaceia para os problemas escolares. E é verdade, como refere Nelly Stromquist, que há uma grande insensatez no processo de circulação de certos conceitos: “A difusão de ideias sobre eficiência escolar, accountability ou controlo de qualidade – que são, essencialmente, constructos anglo-americanos – tem vindo a transformar as escolas do mundo inteiro em cópias defeituosas de uma visão romanceada das empresas privadas” (2000, p. 262). Mas, nas sociedades actuais, o “espectáculo” e a “exposição” fazem parte integrante de uma cultura que se tornou dominante e que constitui um elemento central na definição da “escola de qualidade” e do “professor responsável”.
O dilema do conhecimento:
Reconstruir o conhecimento profissional a partir de uma reflexão prática e deliberativa ou da importância de saber analisar e de saber analisar-se.
Peço desculpa de me expor assim, diante de vós; mas considero que é mais útil contar aquilo que vivemos do que estimular um conhecimento independente da pessoa e uma observação sem observador. Na verdade, não há nenhuma teoria que não seja um fragmento, cuidadosamente preparado, de uma qualquer autobiografia (Paul Valéry, 1931).
Não é fácil definir o conhecimento profissional: tem uma dimensão teórica, mas não é só teórico; tem uma dimensão prática, mas não é apenas prático; tem uma dimensão experiencial, mas não é unicamente produto da experiência.
Estamos perante um conjunto de saberes, de competências e de atitudes mais (e este mais é essencial) a sua mobilização numa determinada acção educativa. Há um certo consenso quanto à importância deste conhecimento, mas há também uma enorme dificuldade na sua formalização e conceptualização. Ponho como hipótese de trabalho que ele depende de uma reflexão prática e deliberativa.
Hoje em dia, há programas de formação de professores que integram esta preocupação, de forma útil e criativa (Darling-Hammond, 2000; Lieberman, 2000). São iniciativas que procuram reforçar o papel dos professores como “investigadores”, contemplando estratégias que vão desde os “seminários de
observação mútua” até aos “espaços da prática reflexiva”, desde os “laboratórios de análise colectiva das práticas” até aos dispositivos de “supervisão dialógica”. Tenho vindo a propor o conceito de “transposição deliberativa”, por contraponto ao conceito de “transposição didáctica”, para falar de uma acção docente que exige um trabalho de deliberação, um espaço de discussão onde as práticas e as opiniões singulares adquiram visibilidade e sejam submetidas à opinião dos outros. É por isso que recorro às figuras saber analisar e saber analisar-se.
A citação de Paul Valéry lembra que todo o conhecimento é auto-conhecimento. Mas, no caso dos professores, temos também de admitir que o conhecimento se constrói a partir de uma reflexão sobre a prática. Quando escreveu a sua célebre máxima (“Quem sabe faz; quem não sabe, ensina”), Bernard Shaw acrescentou: “A actividade é o único caminho para o conhecimento” (1971, p. 784). No que se refere à profissão docente, o “estudo da actividade” é a única maneira de resolver o dilema do conhecimento.
No entanto, é preciso sublinhar que a pesquisa sobre o trabalho pedagógico: (i) não é uma prática “individualizada”, mas sim um processo de escuta, de observação e de análise, que se desenvolve no seio de grupos e de equipas de trabalho; (ii) exige tempo e condições que, muitas vezes, não existem nas escolas; (iii) sugere uma relação forte entre as escolas e o mundo universitário, por razões teóricas e metodológicas, mas também por razões de prestígio e de credibilidade; (iv) implica formas de divulgação pública dos resultados. Se não tivermos em conta estes aspectos cairemos, facilmente, numa retórica inconsequente do “professor como investigador” ou do “professor reflexivo”.
Para os professores, o dilema do conhecimento passa também por uma relação pedagógica que tem como finalidade despertar uma “nova palavra”, a do educando: “A maior parte dos profissionais mobiliza o conhecimento sem desvendar os seus mistérios. (...) Os professores são diferentes. (...) Um bom professor é aquele que se torna dispensável, que consegue que os alunos aprendam sem a sua ajuda. Deste modo, os professores desmistificam o seu próprio conhecimento e entregam a fonte de poder sobre o cliente que outras profissões guardam tão zelosamente” (Labaree, 2000, p. 233). É este um dos dramas mais nobres da profissão docente.
“Eu sou um militante da investigação e da avaliação”, afirmou Jack Lang num discurso proferido a 5 de Março de 2001 no Colóquio Violences à l’école et politiques publiques, explicando que “sem a mistura social que a caracteriza a escola da República não seria mais do que uma escola de classes”. Sublinhando o papel decisivo da pedagogia, o ministro francês referiu-se à importância dos investigadores em educação: “divulgar os resultados das pesquisas é lutar contra as falsas evidências da emoção e do senso comum” .
O debate sobre a escola caracteriza-se, muitas vezes, por uma grande superficialidade. Quanto menos se estuda, mais certezas se declaram. Ao longo deste texto procurei assinalar a complexidade dos problemas e desfazer as ilusões de quem acredita em “soluções mágicas”. Em educação, os consensos são mais aparentes do que reais. É por isso que me pareceu útil mostrar a ambiguidade de conceitos como “comunidades locais” ou “professor reflexivo”, que fazem o sucesso dos tempos actuais.
Alertei ainda contra a tendência para legitimar posições políticas com “resultados científicos” que, pura e simplesmente, não existem. “Torturar os dados até que eles confessem”, chamou Edward Leamer (1983) a este exercício cada vez mais habitual. É preciso um extremo cuidado para não confundir a análise de um problema com a defesa de uma causa.
No princípio do século, G.K. Chesterton escreveu no Illustrated London News: “Uma das características do nosso tempo é que quanto mais duvidamos da filosofia, mais seguros estamos do valor da educação. Dito de outro modo, quanto mais dúvidas temos sobre a existência de verdades, mais nos convencemos (aparentemente) que as conseguimos ensinar às crianças” (12 de Janeiro de 1907). A frase é de uma lucidez que chega aos dias de hoje.
É preciso ir além dos “discursos de superfície” e buscar uma compreensão mais profunda dos fenómenos educativos. Estudar. Conhecer. Investigar. Avaliar. Sem isso, continuaremos prisioneiros da demagogia e da ignorância. As mudanças nas escolas estão por vezes tão próximas, que provocam um efeito de cegueira. Só é possível sair da penumbra através de uma reflexão colectiva e informada.
Não me limitei ao exercício da crítica. A cada passo, inscrevi o meu discurso, em particular a defesa de um espaço público da educação, nos argumentos que fui elaborando. Pierre Jacob conta o seguinte episódio: “O físico Szilard disse um dia ao seu amigo Hans Bethe que tinha decidido escrever um diário: – Não tenciono publicá-lo: vou apenas catalogar os factos para que Deus esteja informado. – Mas, replicou Bethe, não te parece que Deus já conhece os factos? – Sim, responde Szilard, ele conhece os factos, mas não conhece esta versão dos factos” (1980, p. 279). Deixo-vos a minha versão dos factos. As palavras não são inocentes. Os silêncios, também não.
Referências bibliográficas
Apple, Michael (1999). “Introduction”. In Contradictions of School Reform (McNeil, Linda). New York and London: Routledge, pp. xv-xix.
Arthur, James (2000). Schools and Community - The Communitarian Agenda in Education. London and New York: Falmer Press.
Carnoy, Martin (2000). “School Choice? Or is it privatization?”. Educational Researcher, 29(7), pp. 15-20.
Carnoy, Martin & Mcewan, Patrick (2001). “Privatization through vouchers in developing countries: The cases of Chile and Colombia”. In Privatizing Education - Can the market deliver choice, efficiency, equity, and social cohesion? (Levin, Henry, ed.). Boulder, Colorado: Westview Press, pp. 151-177.
Castells, Manuel (1996). The rise of the network society. Oxford: Blackwell.
Castells, Manuel (2001). The Internet Galaxy. Oxford: Oxford University Press.
Clinchy, Evans, ed. (2000). Creating new schools - How small schools are changing American education. New York: Teachers College Press.
Cookson, Peter & Berger, Kristina (2001). Expect miracles - Charter schools and the politics of hope and despair. Boulder, Colorado: Westwiew Press.
Darling-Hammond, Linda (2000). “How teacher education matters”. Journal of Teacher Education, 51(3), pp. 166-173.
Debord, Guy (1992). La société du spectacle. Paris: Gallimard.
Dewey, John (1933). How We Think. Lexington, MA: D.C. Heath and Co.
Dwyer, James (2002). Vouchers within reason - A child-centered approach to education reform. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Finn, Chester; Manno, Bruno & Vanourek, Gregg (2000). Charter schools in action - Renewing public education. Princeton: Princeton University Press.
Foucault, Michel (1994). Dits et écrits. Paris: Gallimard, 4 vols.
Fraser, Nancy (1997). Justice Interruptus - Critical reflections on the “postsocialist” condition. New York: Routledge.
Fuller, Bruce, ed. (2000). Inside charter schools - The paradox of radical decentralization. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Gill, Brian (2001). Rhetoric versus reality: What we need and what we need not to know about vouchers and charter schools. Santa Monica, CA: Rand Education.
Good, Thomas & Braden, Jennifer (2000). The Great School Debate - Choice, Vouchers, and Charters. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
Gorard, Stephen; Fitz, John & Taylor, Chris (2001). “School choice impact: What do we know?”. Educational Researcher, 30(7), pp. 18-23.
Hargreaves, Andy (2000). “Professionals and Parents: Personal adversaries or public allies?”. Prospects, 30(2
Fonte: www.cultiva.org.br
“Não são boas as notícias sobre as escolas, dizem-nos. Somos constantemente recordados do seu fracasso. Os nossos filhos não estão a ser devidamente preparados para enfrentarem os desafios do presente e do futuro. O nosso sistema educativo é ineficiente e ineficaz, como revelam os maus resultados dos alunos e a situação generalizada de indisciplina. Os nossos professores têm uma má formação e estão mais preocupados com os seus interesses do que com os alunos ou com a economia do país. O conhecimento que se ensina nas escolas é obscuro e medíocre e não consegue elevar os padrões morais da nação” (Apple, 1999, p. xv). Esta citação abre um livro recente sobre as contradições da reforma educativa nos Estados Unidos da América. Poderia abrir um outro livro qualquer, em qualquer outra parte do mundo.
Ao longo do século XX, concepções pedagógicas, psicológicas e sociológicas da infância foram-se misturando com “ideologias de salvação”, alimentando a ilusão da escola como lugar de “redenção pessoal” e de “regeneração social”.
No mesmo tempo histórico, a demissão das famílias e das comunidades das suas funções educativas e culturais ia transferindo para as escolas um excesso de missões. Para além do “currículo tradicional”, vagas sucessivas de reformas foram acrescentando novas técnicas e saberes, bem como um conjunto interminável de programas sociais, culturais e assistenciais: educação sexual, combate à droga e à violência, educação ambiental e ecológica, formação para as novas tecnologias, prevenção rodoviária, clubes europeus, actividades artísticas e desportivas, oficinas dos mais diversos tipos, grupos de defesa do artesanato e das culturas locais, educação para a cidadania... A lista poderia ocupar o resto deste artigo. Ninguém duvida que, isoladamente, cada um destes programas é da maior relevância. Mas, vistos no seu conjunto, ilustram bem a amálgama em que se transformou a nossa ideia de educação.
Sociedade sem escolas, propôs Illich. Escolas sem sociedade, constatamos nós trinta anos mais tarde. “Sem sociedade”, porque estamos perante uma ruptura do pacto histórico que permitiu a consolidação e a expansão dos sistemas públicos de ensino e que constituiu uma das grandes marcas civilizacionais do século XX. “Sem sociedade”, porque hoje, para muitos alunos e para muitas famílias, a escola não tem qualquer sentido, não se inscreve numa narrativa coerente do ponto de vista dos seus projectos pessoais ou sociais. Não conseguiremos ir longe nas nossas reflexões, se não compreendermos o alcance desta dupla ausência de sociedade, que, paradoxalmente, projecta sobre os professores expectativas e missões que jamais poderão cumprir.
Neste contexto, não espanta que os debates apontem fortemente para um compromisso social com a educação. As referências sistemáticas à escola como “responsabilidade de todos”, as políticas recorrentes de descentralização e de “proximidade com o local” ou o discurso comunitarista são facetas diversas desta mesma preocupação. Mas é preciso reconhecer que os acordos param aqui. Que fazer? A pergunta recebe as mais variadas e contraditórias respostas. Correndo o risco de uma excessiva simplificação, argumentarei que há duas grandes tendências, que em certos momentos se sobrepõem, mas que encerram narrativas distintas do projecto educativo: a reconstrução da educação como espaço privado e a renovação da educação como espaço público.
A divisão é puramente analítica. Procura iluminar algumas das correntes actuais que atravessam o debate educativo. Não tem qualquer intenção programática. É fácil reconhecer que muitas das tendências que a seguir aparecem analiticamente separadas, se encontram misturadas na “vida real” através de programas e de iniciativas que buscam inspiração em diferentes ideias e perspectivas (Levin, 2001). Não tenho qualquer intenção de regressar à querela escola privada/escola pública. Em certa medida, a questão da “propriedade” dos estabelecimentos de ensino é-me indiferente.
Historicamente, muitas instituições privadas cumpriram uma função pública e muitas instituições públicas apenas serviram interesses privados. O meu objectivo é explicar a diferença entre uma narrativa privada e uma narrativa pública da educação, na acepção assinalada por Neil Postman. Ou, para ser ainda mais preciso, entre perspectivas que organizam a educação numa esfera privada ou numa esfera pública, para recorrer à contribuição teórica de Jürgen Habermas no seu trabalho The structural transformation of the public sphere (cf. Fraser, 1997). É este o sentido da minha interrogação.
A reconstrução da educação como espaço privado
A “crise da escola” tem dado origem a reacções várias que procuram “recolher” ou “proteger” as crianças em espaços privados, justificadas ora com argumentos sociais (ausência de valores e violência crescente nas escolas), ora com argumentos académicos (ensino deficiente e professores medíocres) . É preciso não construir uma unidade artificial em torno de correntes e perspectivas que têm origens e motivações muito distintas (Carnoy, 2000; Gorard, Fitz & Taylor, 2001). A combinação de um individualismo assente em ambientes familiares e religiosos com uma lógica de mercado e de competição tem-se revelado muito poderosa e influente. Mas não tem conduzido a um plano único de acção. Bem pelo contrário, há uma multiplicidade de soluções e de políticas. Nas suas análises, Henry Levin tem chamado a atenção para quatro critérios – liberdade de escolha, eficiência, equidade e coesão social – que considera essenciais para estudar as políticas de privatização: “Diferentes planos valorizam diferentes prioridades no âmbito destes quatro critérios. Dentro de certos limites, estes planos são muito flexíveis e podem ser desenhados para atingirem prioritariamente determinados objectivos” (2001, p. 9).
A partir de um estudo da situação nos Estados Unidos da América, mas também em certos países europeus e sul-americanos , é possível identificar três grandes tendências de privatização: o ensino doméstico, os cheques-ensino e as escolas contratualizadas.
O ensino doméstico. O regresso a práticas de ensino doméstico (home schooling), à maneira da educação das elites no século XIX, é um dos fenómenos mais curiosos dos últimos anos. A partir de preocupações de “coerência” e de “protecção” dos herdeiros, estas práticas têm-se desenvolvido a um ritmo muito significativo, dando origem, nalguns países, à emergência de um verdadeiro sistema educativo paralelo. Nos Estados Unidos da América, mais de um milhão de crianças e jovens, entre os 5 e os 17 anos de idade, são educados em casa. É uma situação limite de “clausura social” que tem duas estruturas principais de suporte: um conjunto de empresas privadas que elaboram programas de formação e de “supervisão pedagógica” dos pais e lhes fornecem materiais curriculares e didácticos ; uma rede muito activa de “comunidades religiosas” que enquadram e legitimam, do ponto de vista moral e social, grande parte destes processos (Spring, 2002). As associações religiosas, nomeadamente as redes das “escolas cristãs” , desempenham um papel essencial na criação de uma mundividência que define estas formas de educar.
Os cheques-ensino. Os cheques-ensino, tradução que tem sido adoptada para educational vouchers, são a modalidade mais conhecida de “escolha educacional” . No entanto, a sua aplicação concreta tem sido, pelo menos até agora, bastante limitada. Nos Estados Unidos da América, apesar da visibilidade que adquiriram no debate político, estes programas são muito escassos, abrangendo apenas cerca de 15.000 alunos (Witte, 2000). Um dos
seus principais defensores, Terry Moe, afirma que o movimento tem, tradicionalmente, dois grandes pilares: “o conservadorismo e a religião” (2001, p. 3). Todavia, a designação cheques-ensino serve para abrigar políticas muito distintas. Por isso, os investigadores procuram centrar os seus estudos, cada vez mais, na estrutura concreta dos diferentes programas.
O princípio da universalidade dos cheques-ensino (universal vouchers), tal como foi inicialmente formulado por Milton Friedman, tende a ser abandonado. Pelo contrário, as iniciativas que se dirigem prioritariamente a alunos de meios desfavorecidos (targeted vouchers) têm vindo a conquistar o apoio da “opinião pública” (Moe, 2001). Não há ainda elementos que permitam avaliar com rigor o impacto académico e social destas políticas. O pouco que se conhece parece não confirmar nem as expectativas dos seus adeptos (os cheques-ensino ajudariam a melhorar os resultados escolares dos alunos), nem os receios dos seus adversários (os cheques-ensino contribuiriam para acentuar as desigualdades sociais e escolares) .
As escolas contratualizadas. “Escolas contratualizadas” é uma tradução imperfeita do conceito de charter schools. Nos Estados Unidos da América, o movimento iniciou-se há dez anos e conta já com 2500 escolas, abrangendo uma população escolar de 600.000 alunos . Vários autores consideram que se trata da iniciativa mais radical de transformação do sistema educativo (Hassel, 1999). Apesar de consagrarem um “modelo híbrido”, entre o público e o privado, são portadoras de um discurso comunitarista, de feição política ou religiosa, que procura preservar os ambientes escolares de uma excessiva “contaminação social”. A literatura abundante que tem sido produzida sobre este tema revela, sem margem para dúvidas, um conjunto muito significativo de experiências bem sucedidas; mas mostra, também, uma grande instabilidade das escolas, devido às próprias condições conjunturais que conduziram à sua criação (uma dinâmica associativa, um determinado grupo de pais, uma iniciativa política local, etc.) .
Neste caso, a distinção público/privado é particularmente problemática: “Estas propostas não significam necessariamente a privatização do financiamento ou dos meios educativos. Podem significar, isso sim, a privatização do propósito da educação, na medida em que procuram responder apenas aos interesses privados de certos grupos ou indivíduos” (Lubienski, 2001, p. 660).
Referindo-se ao conjunto destas iniciativas, Seymour Sarason chama a atenção para o voluntarismo que as caracteriza e para as dificuldades que se levantam à criação e à consolidação de novas instituições e dispositivos de formação . É uma observação muito lúcida, que nos põe de sobreaviso quanto a duas ilusões que a ambiência dos debates vai alimentando com excessiva ligeireza. Por um lado, a ilusão de que estaríamos perante uma lógica de não-reforma, que estabilizaria a vida das escolas e dos alunos. Nada mais falso. Estamos perante iniciativas muito complexas, que exigem longos processos de aprendizagem e de experimentação:
“se é verdade que muitas destas escolas terão sucesso, é fácil prever que serão ainda mais as que fracassarão” (Sarason, 1998, p. 5). Por outro lado, a ilusão de que tudo isto se traduziria, por um golpe de magia, “em melhor educação a preços mais baratos”. Nada mais errado. A reconstrução da
educação como espaço privado obriga a novos e importantes investimentos, tanto das famílias como dos poderes públicos e do sector privado.
Desfazer estas ilusões, permite repor o debate no seu lugar: qual é o fim da educação? Qual é a narrativa que nos orienta? No seu último livro, Philippe Perrenoud explica que, se cada comunidade religiosa, étnica ou linguística, se cada classe social, se cada subgrupo da sociedade edificasse a sua
própria escola, haveria sem dúvida um acordo mais profundo entre essa escola e aqueles que a frequentam: “Cada uma dessas escolas poderia adaptar as ciências, a arte, a filosofia, a história, a geografia, a educação para a cidadania ou a educação física à visão do mundo da comunidade em que ela se enraizaria, de onde retiraria os seus meios de existência e onde recrutaria os seus mestres. Esta harmonia entre cada comunidade e a educação escolar destinada às suas crianças teria evidentemente um preço: as escolas seriam mobilizadas nas guerras de religião, nos conflitos étnicos ou linguísticos, nos confrontos entre classes sociais: elas contribuiriam para a divisão da sociedade e não para a sua unidade” (2002, p. 13). Ao modelo de a cada um a sua escola, à perspectiva de uma educação que tende a “fechar” as crianças nos seus meios sociais e nas suas culturas de origem, contraponho nas páginas seguintes a vontade de renovar a educação como espaço público.
A renovação da educação como espaço público
A afirmação da originalidade e da individualidade é um dos traços marcantes da cultura contemporânea. No campo educativo, todas as experiências e iniciativas reivindicam um carácter único e é este facto que as torna possíveis e lhes dá sentido. Mas um simples relance pelo mundo permite compreender que são as mesmas propostas e discursos que circulam de um “local” para outro “local”. A especificidade só é viável quando se integra em maneiras de pensar que se impuseram na nova “sociedade de redes e de fluxos”.
Repensar a educação como espaço público implica interrogar criticamente o one best system, para utilizar a expressão consagrada por David Tyack (1974), e compreender as razões que impediram a escola de cumprir muitas das suas promessas históricas. É a partir deste lugar que poderemos imaginar propostas que reconciliem a escola com a sociedade e chamem a sociedade a uma maior presença na escola.
O debate tornou-se inadiável: Como conseguir que as famílias e as comunidades sintam que a escola lhes pertence sem que, ao mesmo tempo, se fechem na “sua” escola? Como conseguir que a educação responda aos anseios e aos desejos de cada um sem que, ao mesmo tempo, renuncie à integração de todos numa cultura partilhada? As soluções do passado não respondem às perguntas do presente. Nas páginas seguintes, deixarei três apontamentos breves, sugerindo algumas pistas para a renovação da educação como espaço público.
O “poder organizador” das escolas. Inspirando-se no exemplo belga, Philippe Perrenoud (2002) mobiliza o conceito de “poder organizador” para sugerir novas modalidades de funcionamento das escolas. Há um campo aberto de possibilidades, entre visões extremas do “Estado” e do “mercado”: “O verdadeiro desafio consiste em evitar processos atomizados de decisão, consolidando uma responsabilidade colectiva pela educação, sem recriar lógicas de planeamento centralizado (...) que ajudaram a legitimar a tendência actual para considerar a educação como bem privado e não como responsabilidade pública” (Whitty, 2001, p. 218). Portugal é, historicamente, um dos países com maior presença estatal na regulação do espaço educativo. A questão da pertença da escola nem sequer foi objecto de grande controvérsia ao longo do século XX. Para tal muito contribuiu a aliança entre o regime salazarista e a Igreja, que afastou as famílias, as comunidades locais e os professores de qualquer participação na organização e na direcção das escolas. O espírito associativo, no quadro de práticas de autonomia das instituições escolares, foi entre nós sistematicamente asfixiado. O regresso a dinâmicas associativas, desenvolvidas no quadro de uma narrativa pública da educação, permitirá evitar as tendências burocráticas e corporativas, sem cair numa visão fragmentada dos alunos como “clientes” e das escolas como “serviço privado” (Castells, 1996; Touraine, 1992).
A escola como realidade multipolar. Historicamente, os sistemas de ensino organizaram-se a partir do “topo”, adoptando estruturas burocráticas, corporativas e disciplinares que foram dissolvendo modos locais, familiares e tradicionais de promover a educação. A escola foi substituindo estes processos “informais”, assumindo o monopólio do ensino. Os professores tornaram-se os responsáveis públicos pela formação das crianças. Hoje, sabemos que este modelo escolar – espaços físicos fechados, estruturas curriculares rígidas, formas arcaicas de organização do trabalho – está fatalmente condenado. A escola terá de se definir como um espaço público, democrático e participado, no quadro de redes de comunicação e de cultura, de arte e de ciência. Numa curiosa ironia do destino, o seu futuro passa pela capacidade de “recuperar” práticas antigas (familiares, sociais, comunitárias), enunciando-as no contexto de modalidades novas de cultura e de educação. Mas uma extrema prudência é necessária: os movimentos sociais estabelecem-se num voluntarismo de curta duração, enquanto o trabalho escolar se define num tempo necessariamente longo. Em Portugal, com raríssimas excepções, as estruturas sociais ou associativas de suporte à educação são de uma enorme fragilidade. É essencial reforçá-las e dar-lhes maior consistência. Delas depende, em grande parte, a renovação do espaço público da educação.
Um novo espaço de conhecimento. Os debates sobre a escola ignoram frequentemente o tema do conhecimento. É verdade que, hoje, ele se encontra disponível numa diversidade de formas e de lugares. Mas o momento do ensino é fundamental para o explicar, para revelar a sua evolução histórica e para preparar a sua apreensão crítica. Há quatro pontos que merecem ser brevemente assinalados. Em primeiro lugar, evitar que a educação exclua a “contemporaneidade”, reduzindo-se apenas às formas clássicas de conhecimento. Em segundo lugar, contrariar tendências de desvalorização do conhecimento; a pedagogia está indissociavelmente ligada aos conteúdos de ensino. Em terceiro lugar, admitir novas formas de relação ao saber; a realidade actual do mundo da ciência e da arte define-se por uma complexidade e uma imprevisibilidade que a escola não pode continuar a ignorar. Em quarto lugar, compreender o impacto das tecnologias da informação e da comunicação, que transportam formas novas de conhecer e de aprender: “um dos maiores desafios da Galáxia Internet é a instalação de capacidades de processamento da informação e de produção de conhecimento em cada um de nós – e particularmente em cada criança” (Castells, 2001, p. 278). Estas tensões não são recentes, mas têm novos contornos numa sociedade que se diz “do conhecimento”.
As ideias anteriores procuram lançar as bases da renovação da educação como espaço público. Referi a necessidade de reforçar o poder de iniciativa e a presença social nas escolas, o que levanta a questão da comunidade. Mencionei, depois, a reorganização da escola como realidade multipolar, composta de lugares físicos e de lugares virtuais, o que sugere a questão da autonomia. Abordei, por último, a temática do saber e da sua recomposição na sociedade actual, o que coloca a questão do conhecimento. Na última parte deste texto, argumento que estas três questões se traduzem em dilemas para a profissão docente, com importantes consequências no trabalho pedagógico e na formação de professores.
DILEMAS DA PROFISSÃO DOCENTE
Historicamente, a identidade profissional dos professores constituiu-se a partir de uma separação e independência das comunidades locais. Portugal foi um dos primeiros países a conceder o estatuto de “funcionário público” aos mestres e aos professores régios, na sequência das reformas pombalinas do final do século XVIII. O processo de profissionalização do professorado fez-se sob a tutela do Estado, ainda que não se deva ignorar o papel desempenhado pelos movimentos associativos desde as décadas iniciais do século XIX. Os professores nunca aceitaram prestar contas do seu trabalho às comunidades locais e o seu ethos profissional definiu-se por “internalização” e não por “externalização” (Nóvoa, 1987). Mas, hoje em dia, todos os discursos apontam para a necessidadede os professores refazerem uma ligação forte ao espaço comunitário. Eis um dos principais dilemas que têm de enfrentar.
O conceito de “autonomia” é o mais problemático do léxico educacional. Por agora, interessa-me apenas assinalar o processo histórico que foi conduzindo a uma uniformização dos modos de trabalho pedagógico. A consolidação de uma mesma “gramática da escola” é uma realidade mundial que, no caso português, se tornou mais nítida pela presença de uma burocracia centralizadora (Nóvoa, 1998). Mesmo quando a retórica da diversidade foi mais intensa, as escolas funcionaram segundo lógicas muito semelhantes. Hoje, a renovação do “modelo escolar” depende, em grande medida, da sua capacidade para construir respostas diferentes, não só do ponto de vista pedagógico, mas também organizativo. Eis um segundo dilema da profissão docente.
Os professores nunca viram o seu conhecimento específico devidamente reconhecido. Mesmo quando se insistiu na importância da sua missão, a tendência foi sempre para considerar que lhes bastava dominarem bem a “matéria” e possuírem um certo jeito para comunicar e para lidar com os alunos. O resto era dispensável. Tais posições conduzem, inevitavelmente, ao desprestígio da profissão, cujo saber perde qualquer “valor de troca” no mercado académico e universitário. Se levarmos este raciocínio até ao fim, deparamo-nos com um curioso paradoxo: “semi-ignorantes”, os professores são considerados as pedras-chave da nova “sociedade do conhecimento”. A mais complexa das actividades profissionais é, assim, reduzida ao estatuto de coisa simples e natural. Eis um terceiro dilema que os professores têm pela frente.
São estas três entradas que organizam a última parte deste texto . Defenderei que os programas de formação têm de desenvolver três “famílias de competências” – saber relacionar e saber relacionar-se, saber organizar e saber organizar-se, saber analisar e saber analisar-se – que são essenciais para que os professores se situem no novo espaço público da educação. Na sua definição, utilizo as formas transitivas e pronominais dos verbos, para sublinhar que os professores são, ao mesmo tempo, objectos e sujeitos da formação. É no trabalho individual e colectivo de reflexão que eles encontrarão os meios necessários ao seu desenvolvimento profissional.
O dilema da comunidade:
Redefinir o sentido social do trabalho docente no novo espaço público da educação ou da importância de saber relacionar e de saber relacionar-se.
Se num jantar conheceres um homem que dedicou a sua vida a educar-se a si próprio – exemplar raro no nosso tempo, admito-o, mas ainda assim possível de se encontrar, ocasionalmente – levantar-te-ás da mesa mais rico, com a certeza que, por um momento, um alto ideal tocou e benzeu os teus dias. Mas, meu caro Ernesto, sentares-te ao lado de um homem que passou a sua vida a tentar educar os outros! Que horrível experiência essa! (Oscar Wilde, 1891).
A concepção da escola como um espaço aberto, em ligação com outras instituições culturais e científicas e com uma presença forte das comunidades locais, obriga os professores a redefinirem o sentido social do seu trabalho. Afastando-se de filiações burocráticas e corporativas, têm de refazer uma identidade profissional que valorize o seu papel como animadores de redes de aprendizagem, como mediadores culturais e como organizadores de situações educativas. É verdade que tal evolução conduzirá a uma maior abertura das escolas e dos professores, que ficarão mais vulneráveis e acessíveis ao escrutínio público. Mas esta “vulnerabilidade” é a condição necessária do seu prestígio social e da sua afirmação profissional (Hargreaves, 2000).
Todavia – e aqui regresso à citação de Oscar Wilde que abre este ponto – nada será alterado se continuarmos a repetir, sob as mais variadas formas, uma visão desvalorizada do trabalho docente. Uma maior exposição pública exige níveis de confiança profissional que não são compatíveis com muitas das imagens que tradicionalmente circulam sobre os professores. Uma das razões principais deste equívoco prende-se com a convicção que o ensino é uma actividade relativamente “simples”, que se exerce “naturalmente”. Limito-me a delinear três ideias que criticam esta concepção.
Contrariamente a outros profissionais, o trabalho do professor depende da “colaboração” do aluno: “um cirurgião opera com o doente anestesiado e um advogado pode defender um cliente silencioso, mas o sucesso do professor depende da cooperação activa do aluno” (Labaree, 2000, p. 228). Ninguém ensina quem não quer aprender. Em 1933, John Dewey sugeriu, numa comparação provocatória, que do mesmo modo que não é possível ser bom vendedor se não existir alguém que compre, também não é possível ser bom professor se não houver alguém que aprenda. O problema torna-se ainda mais complicado se atendermos à circunstância de a presença do aluno na escola não ser produto de um acto de vontade, mas sim de uma imposição social e familiar. Regresso ao tema da “ausência de sociedade” e à importância do professor repensar o seu trabalho no quadro de novas redes e relações sociais.
Mas a actividade docente caracteriza-se igualmente por uma grande complexidade do ponto de vista emocional. Os professores vivem num espaço carregado de afectos, de sentimentos e de conflitos. Quantas vezes prefeririam não se envolver... Mas sabem que tal distanciamento seria a negação do seu próprio trabalho. Que ninguém tenha ilusões. Ao alargarmos o espaço da escola, para nele incluirmos um conjunto de outros “parceiros”, estamos inevitavelmente a tornar ainda mais difícil este processo. Os professores têm de ser formados, não apenas para uma relação pedagógica com os alunos, mas também para uma relação social com as “comunidades locais”.
Registe-se, por fim, que pedimos à educação que cumpra objectivos distintos e, por vezes, contraditórios: desenvolver a pessoa e formar o trabalhador, assegurar a igualdade de oportunidades e a selecção social, promover a mobilidade profissional e a coesão social. Muitas vezes, insistimos num discurso de prestação de serviços a um “cliente”, cuja identidade nem sequer conseguimos claramente definir: “Numa certa perspectiva, o cliente é o aluno. Numa outra, são as famílias. Num terceiro plano, é a comunidade no seu conjunto, que paga a educação e que exige a formação de cidadãos competentes e de trabalhadores eficazes. Manter todos estes clientes satisfeitos não é tarefa fácil” (Labaree, 2000, p. 231).
Os cenários que acabo de descrever sugerem novos sentidos para o trabalho docente, conduzindo à valorização de um conjunto de competências profissionais que poderão ser sintetizadas nas figuras saber relacionar e saber relacionar-se. O “novo” espaço público da educação chama os professores a uma intervenção técnica, mas também a uma intervenção política, a uma participação nos debates sociais e culturais, a um trabalho continuado junto das comunidades locais. A formação de professores tem concedido pouca atenção a esta “família de competências” – expressivas e comunicacionais, tecnológicas e sociais – que definem grande parte do futuro da profissão. Num certo sentido, é a própria concepção de trabalho pedagógico, tal como se consolidou nas escolas durante o último século, que se encontra posta em causa. Estamos perante uma transição fundamental nos processos identitários dos professores.
O dilema da autonomia:
Repensar o trabalho docente numa lógica de projecto e de colegialidade ou da importância de saber organizar e de saber organizar-se
A primeira característica chocante no funcionamento actual das escolas é o seu carácter cego. As outras instituições interrogam-se periodicamente sobre elas próprias, reflectindo colectivamente em instâncias qualificadas sobre o seu funcionamento. Esta prática é desconhecida nos estabelecimentos de ensino. E estamos de tal modo habituados a este funcionamento às cegas, que já nem sequer damos por ele (Antoine Prost, 1992).
O “projecto de escola” e a “colegialidade docente” são dois discursos que têm dominado os debates educativos no último decénio. Integrados em movimentos de renovação com origens e intenções muito diversas, sugerem modalidades novas de organização das escolas e da profissão, a partir do conceito mágico de “autonomia”.
Num primeiro registo (projecto de escola), é preciso reconhecer que não temos prestado a devida atenção às formas de organização do trabalho escolar. Pensamos nos professores e na sua formação, nos currículos e nos programas, nas estratégias pedagógicas e nas metodologias, mas raramente nos temos interrogado sobre a organização do trabalho na escola: definição dos espaços e dos tempos lectivos, agrupamento dos alunos e das disciplinas, modalidades de ligação à “vida activa”, gestão dos ciclos de aprendizagem, etc. É evidente que há um conjunto de experiências muito interessantes, que foram sendo integradas na memória da profissão, alargando o repertório dos
professores. Mas tem faltado um esforço de teorização e de sistematização, como explica Philippe Perrenoud no capítulo anterior deste livro: “A forma escolar implodirá se não conseguir romper com a organização convencional do trabalho escolar. Para avançarmos nesta dissociação, falta-nos uma linguagem, conceitos e a representação partilhada de formas alternativas (ou, pelo menos, um mínimo de pistas de investigação)”. É aqui que se decide uma educação que não se esgota no espaço-tempo da sala de aula, mas que se projecta em múltiplos lugares e ocasiões de formação.
Num segundo registo (colegialidade docente), é preciso reconhecer que não temos prestado a devida atenção às formas de organização do trabalho profissional. Pensamos no professor a título individual, nos seus saberes e capacidades, mas raramente nos temos interrogado sobre essa “competência colectiva” que é mais do que a soma das “competências individuais”. A literatura especializada tem analisado esta questão, a partir de estudos sobre os ciclos de vida dos professores, os primeiros anos de exercício profissional, os dispositivos de acompanhamento e supervisão, o desenvolvimento profissional, etc. (Nóvoa, 2002). Mas vários autores assinalam que estamos, muitas vezes, perante discursos de moda que têm um impacto limitado na vida dos professores. É importante, por isso, que se caminhe no sentido de promover a organização de espaços de aprendizagem inter-pares, de troca e de partilha. Não se trata, apenas, de uma simples colaboração, mas da possibilidade de inscrever os princípios de colectivo e de colegialidade na cultura profissional dos professores.
As figuras saber organizar e saber organizar-se procuram chamar a atenção para a necessidade de repensar o trabalho escolar e o trabalho profissional. São mudanças que obrigam a uma nova atitude, nomeadamente na definição de práticas e de dispositivos de avaliação, no interior e no exterior das escolas e da profissão docente. É por isso que decidi abrir este ponto com palavras de Antoine Prost que constam do livro As organizações escolares em análise, publicado em 1992, sob a minha coordenação. Propor um novo espaço público da educação implica, obviamente, uma ideia de abertura que passa por um reforço dos dispositivos de avaliação. Eles são um instrumento essencial do diálogo entre as escolas e a sociedade. Mas são também um instrumento para a regulação interna da acção pedagógica e profissional.
É inútil acreditar na avaliação como panaceia para os problemas escolares. E é verdade, como refere Nelly Stromquist, que há uma grande insensatez no processo de circulação de certos conceitos: “A difusão de ideias sobre eficiência escolar, accountability ou controlo de qualidade – que são, essencialmente, constructos anglo-americanos – tem vindo a transformar as escolas do mundo inteiro em cópias defeituosas de uma visão romanceada das empresas privadas” (2000, p. 262). Mas, nas sociedades actuais, o “espectáculo” e a “exposição” fazem parte integrante de uma cultura que se tornou dominante e que constitui um elemento central na definição da “escola de qualidade” e do “professor responsável”.
O dilema do conhecimento:
Reconstruir o conhecimento profissional a partir de uma reflexão prática e deliberativa ou da importância de saber analisar e de saber analisar-se.
Peço desculpa de me expor assim, diante de vós; mas considero que é mais útil contar aquilo que vivemos do que estimular um conhecimento independente da pessoa e uma observação sem observador. Na verdade, não há nenhuma teoria que não seja um fragmento, cuidadosamente preparado, de uma qualquer autobiografia (Paul Valéry, 1931).
Não é fácil definir o conhecimento profissional: tem uma dimensão teórica, mas não é só teórico; tem uma dimensão prática, mas não é apenas prático; tem uma dimensão experiencial, mas não é unicamente produto da experiência.
Estamos perante um conjunto de saberes, de competências e de atitudes mais (e este mais é essencial) a sua mobilização numa determinada acção educativa. Há um certo consenso quanto à importância deste conhecimento, mas há também uma enorme dificuldade na sua formalização e conceptualização. Ponho como hipótese de trabalho que ele depende de uma reflexão prática e deliberativa.
Hoje em dia, há programas de formação de professores que integram esta preocupação, de forma útil e criativa (Darling-Hammond, 2000; Lieberman, 2000). São iniciativas que procuram reforçar o papel dos professores como “investigadores”, contemplando estratégias que vão desde os “seminários de
observação mútua” até aos “espaços da prática reflexiva”, desde os “laboratórios de análise colectiva das práticas” até aos dispositivos de “supervisão dialógica”. Tenho vindo a propor o conceito de “transposição deliberativa”, por contraponto ao conceito de “transposição didáctica”, para falar de uma acção docente que exige um trabalho de deliberação, um espaço de discussão onde as práticas e as opiniões singulares adquiram visibilidade e sejam submetidas à opinião dos outros. É por isso que recorro às figuras saber analisar e saber analisar-se.
A citação de Paul Valéry lembra que todo o conhecimento é auto-conhecimento. Mas, no caso dos professores, temos também de admitir que o conhecimento se constrói a partir de uma reflexão sobre a prática. Quando escreveu a sua célebre máxima (“Quem sabe faz; quem não sabe, ensina”), Bernard Shaw acrescentou: “A actividade é o único caminho para o conhecimento” (1971, p. 784). No que se refere à profissão docente, o “estudo da actividade” é a única maneira de resolver o dilema do conhecimento.
No entanto, é preciso sublinhar que a pesquisa sobre o trabalho pedagógico: (i) não é uma prática “individualizada”, mas sim um processo de escuta, de observação e de análise, que se desenvolve no seio de grupos e de equipas de trabalho; (ii) exige tempo e condições que, muitas vezes, não existem nas escolas; (iii) sugere uma relação forte entre as escolas e o mundo universitário, por razões teóricas e metodológicas, mas também por razões de prestígio e de credibilidade; (iv) implica formas de divulgação pública dos resultados. Se não tivermos em conta estes aspectos cairemos, facilmente, numa retórica inconsequente do “professor como investigador” ou do “professor reflexivo”.
Para os professores, o dilema do conhecimento passa também por uma relação pedagógica que tem como finalidade despertar uma “nova palavra”, a do educando: “A maior parte dos profissionais mobiliza o conhecimento sem desvendar os seus mistérios. (...) Os professores são diferentes. (...) Um bom professor é aquele que se torna dispensável, que consegue que os alunos aprendam sem a sua ajuda. Deste modo, os professores desmistificam o seu próprio conhecimento e entregam a fonte de poder sobre o cliente que outras profissões guardam tão zelosamente” (Labaree, 2000, p. 233). É este um dos dramas mais nobres da profissão docente.
“Eu sou um militante da investigação e da avaliação”, afirmou Jack Lang num discurso proferido a 5 de Março de 2001 no Colóquio Violences à l’école et politiques publiques, explicando que “sem a mistura social que a caracteriza a escola da República não seria mais do que uma escola de classes”. Sublinhando o papel decisivo da pedagogia, o ministro francês referiu-se à importância dos investigadores em educação: “divulgar os resultados das pesquisas é lutar contra as falsas evidências da emoção e do senso comum” .
O debate sobre a escola caracteriza-se, muitas vezes, por uma grande superficialidade. Quanto menos se estuda, mais certezas se declaram. Ao longo deste texto procurei assinalar a complexidade dos problemas e desfazer as ilusões de quem acredita em “soluções mágicas”. Em educação, os consensos são mais aparentes do que reais. É por isso que me pareceu útil mostrar a ambiguidade de conceitos como “comunidades locais” ou “professor reflexivo”, que fazem o sucesso dos tempos actuais.
Alertei ainda contra a tendência para legitimar posições políticas com “resultados científicos” que, pura e simplesmente, não existem. “Torturar os dados até que eles confessem”, chamou Edward Leamer (1983) a este exercício cada vez mais habitual. É preciso um extremo cuidado para não confundir a análise de um problema com a defesa de uma causa.
No princípio do século, G.K. Chesterton escreveu no Illustrated London News: “Uma das características do nosso tempo é que quanto mais duvidamos da filosofia, mais seguros estamos do valor da educação. Dito de outro modo, quanto mais dúvidas temos sobre a existência de verdades, mais nos convencemos (aparentemente) que as conseguimos ensinar às crianças” (12 de Janeiro de 1907). A frase é de uma lucidez que chega aos dias de hoje.
É preciso ir além dos “discursos de superfície” e buscar uma compreensão mais profunda dos fenómenos educativos. Estudar. Conhecer. Investigar. Avaliar. Sem isso, continuaremos prisioneiros da demagogia e da ignorância. As mudanças nas escolas estão por vezes tão próximas, que provocam um efeito de cegueira. Só é possível sair da penumbra através de uma reflexão colectiva e informada.
Não me limitei ao exercício da crítica. A cada passo, inscrevi o meu discurso, em particular a defesa de um espaço público da educação, nos argumentos que fui elaborando. Pierre Jacob conta o seguinte episódio: “O físico Szilard disse um dia ao seu amigo Hans Bethe que tinha decidido escrever um diário: – Não tenciono publicá-lo: vou apenas catalogar os factos para que Deus esteja informado. – Mas, replicou Bethe, não te parece que Deus já conhece os factos? – Sim, responde Szilard, ele conhece os factos, mas não conhece esta versão dos factos” (1980, p. 279). Deixo-vos a minha versão dos factos. As palavras não são inocentes. Os silêncios, também não.
Referências bibliográficas
Apple, Michael (1999). “Introduction”. In Contradictions of School Reform (McNeil, Linda). New York and London: Routledge, pp. xv-xix.
Arthur, James (2000). Schools and Community - The Communitarian Agenda in Education. London and New York: Falmer Press.
Carnoy, Martin (2000). “School Choice? Or is it privatization?”. Educational Researcher, 29(7), pp. 15-20.
Carnoy, Martin & Mcewan, Patrick (2001). “Privatization through vouchers in developing countries: The cases of Chile and Colombia”. In Privatizing Education - Can the market deliver choice, efficiency, equity, and social cohesion? (Levin, Henry, ed.). Boulder, Colorado: Westview Press, pp. 151-177.
Castells, Manuel (1996). The rise of the network society. Oxford: Blackwell.
Castells, Manuel (2001). The Internet Galaxy. Oxford: Oxford University Press.
Clinchy, Evans, ed. (2000). Creating new schools - How small schools are changing American education. New York: Teachers College Press.
Cookson, Peter & Berger, Kristina (2001). Expect miracles - Charter schools and the politics of hope and despair. Boulder, Colorado: Westwiew Press.
Darling-Hammond, Linda (2000). “How teacher education matters”. Journal of Teacher Education, 51(3), pp. 166-173.
Debord, Guy (1992). La société du spectacle. Paris: Gallimard.
Dewey, John (1933). How We Think. Lexington, MA: D.C. Heath and Co.
Dwyer, James (2002). Vouchers within reason - A child-centered approach to education reform. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Finn, Chester; Manno, Bruno & Vanourek, Gregg (2000). Charter schools in action - Renewing public education. Princeton: Princeton University Press.
Foucault, Michel (1994). Dits et écrits. Paris: Gallimard, 4 vols.
Fraser, Nancy (1997). Justice Interruptus - Critical reflections on the “postsocialist” condition. New York: Routledge.
Fuller, Bruce, ed. (2000). Inside charter schools - The paradox of radical decentralization. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Gill, Brian (2001). Rhetoric versus reality: What we need and what we need not to know about vouchers and charter schools. Santa Monica, CA: Rand Education.
Good, Thomas & Braden, Jennifer (2000). The Great School Debate - Choice, Vouchers, and Charters. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.
Gorard, Stephen; Fitz, John & Taylor, Chris (2001). “School choice impact: What do we know?”. Educational Researcher, 30(7), pp. 18-23.
Hargreaves, Andy (2000). “Professionals and Parents: Personal adversaries or public allies?”. Prospects, 30(2
Fonte: www.cultiva.org.br



 Aprender Fazendo
Aprender Fazendo


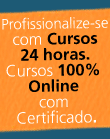







1 Comment:
Na nossa opinião, os Srs. Ilustres Educadores dos Ministérios não conseguem na sua santa ignorância notar coisas bem óbvias: os métodos de ensino usados correntemente são inválidos. As explicações para os Srs. Ministros estão aqui.
Post a Comment